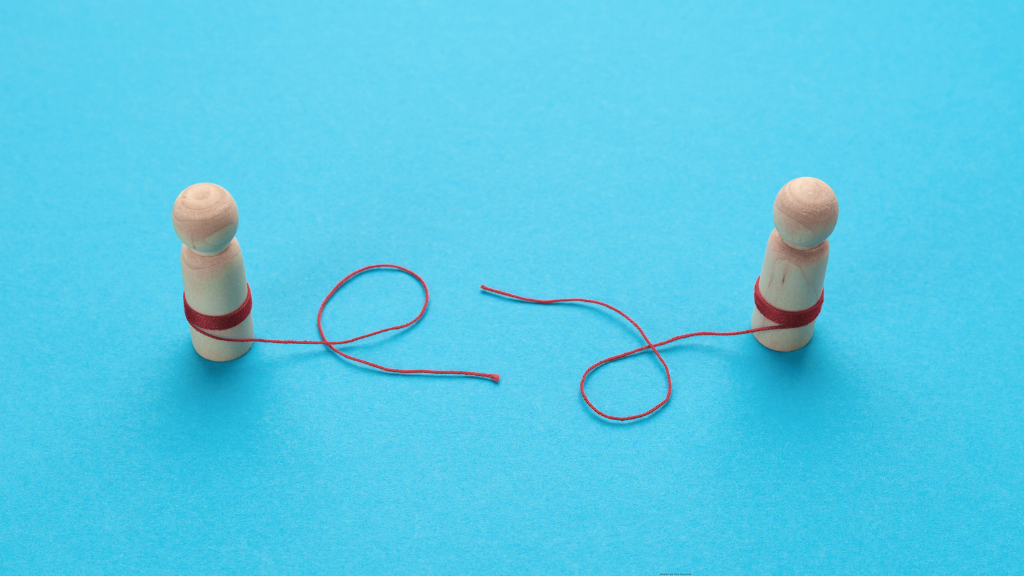
A VIOLÊNCIA INVISÍVEL DA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Existe uma violência peculiar que não se manifesta em gritos ou proibições explícitas. Ela habita o espaço entre o que foi dito e o que deveria ter sido compreendido. Reside na distância entre a mensagem transmitida e a experiência de quem a recebe. Não deixa marcas visíveis, não gera processos trabalhistas, não aparece em pesquisas de clima — e justamente por isso se perpetua com eficiência assustadora nas estruturas corporativas contemporâneas.
Estamos falando da arquitetura comunicacional que opera como dispositivo de seleção: determina quem pertence e quem está apenas de passagem, quem foi considerado no desenho da mensagem e quem precisará fazer um esforço cognitivo adicional para decodificar aquilo que, para outros, flui com naturalidade desconcertante. A questão não é semântica. É existencial. Porque toda escolha de linguagem carrega consigo uma ontologia implícita — uma visão sobre quem merece ser considerado como interlocutor legítimo e quem figura apenas como destinatário acidental.
Quando uma organização estrutura seus sistemas comunicacionais, ela não está simplesmente definindo protocolos de transmissão de informação. Está, fundamentalmente, delimitando fronteiras de pertencimento. Está inscrevendo nas palavras, nas estruturas sintáticas, nos formatos e nos pressupostos não declarados uma hierarquia de relevâncias humanas. E o mais perturbador: faz isso frequentemente sem intenção maliciosa, apenas reproduzindo automatismos culturais que jamais foram submetidos ao escrutínio reflexivo.
Pense na naturalidade com que corporações reproduzem padrões comunicacionais que pressupõem um destinatário ideal: alguém que tem tempo linear disponível, que processa informações em formatos visuais complexos, que domina códigos corporativos específicos, que possui trajetórias profissionais sem interrupções, que se reconhece em exemplos familiares normativos, que experimenta o mundo através de parâmetros neurológicos considerados “padrão”. Esse destinatário fantasma — que raramente corresponde à diversidade real das pessoas que compõem a organização — torna-se o molde invisível a partir do qual toda comunicação é estruturada.
O que acontece, então, com aqueles que não se encaixam nesse molde? Eles recebem a mensagem, junto com ela recebem também um recado paralelo, não verbalizado, porém perfeitamente compreensível: vocês não foram considerados quando isso foi construído. Sua existência específica, suas necessidades particulares, seus modos singulares de processar informação não estavam no horizonte de quem desenhou esse sistema. Vocês podem até participar, sempre como convidados que precisam se adaptar aos códigos da casa — nunca como habitantes legítimos cujas especificidades moldam a própria arquitetura do espaço.
Quando a Exclusão Acontece Sem Anúncio: Casos Reais da Invisibilidade Estrutural
Essa dinâmica se manifesta de formas surpreendentemente sutis, cotidianas. Tome o caso de Renata, engenheira com quinze anos de experiência em infraestrutura de redes, recentemente diagnosticada com TDAH. Ela recebe o comunicado sobre mudanças nos processos de aprovação de projetos: oito páginas de texto corrido, enviadas às 18h23 de uma sexta-feira, com cinco links para documentos complementares que referenciam outros documentos anteriores. Não há síntese executiva. Não há estrutura visual clara. Não há hierarquia de informação. Para Renata, aquilo não é apenas um e-mail denso — é uma maratona cognitiva que consumirá o dobro do tempo que consumiria para colegas neurotípicos, deixando-a exausta e com a sensação persistente de que “deveria conseguir processar isso mais rapidamente”.
A mensagem técnica chegou. A informação está ali. Formalmente, todos foram comunicados. Informalmente, Renata recebeu outro recado: seu modo específico de processar informação não foi considerado relevante o suficiente para influenciar como essa comunicação foi estruturada.
Ou considere o formulário de inscrição para o programa de sucessão de uma multinacional. Entre as perguntas obrigatórias: “nome do cônjuge”, “quantidade de filhos”, “escolaridade do pai e da mãe”. Para Marcelo, profissional competente em relacionamento homoafetivo sem filhos, criado por avó após abandono parental, o formulário não coleta apenas dados — ele comunica que sua configuração existencial é um desvio estatístico que precisa ser acomodado em campos que não foram desenhados pensando em histórias como a dele. Ele preenche, adapta, inventa respostas que caibam nas caixas disponíveis. Tecnicamente, participou do processo. Simbolicamente, foi informado de que precisou se contorcer para caber.
A gerente de operações Laura vivencia outra faceta dessa exclusão estrutural. Mãe solo de três crianças, ela trabalha em turnos porque precisa estar presente nos horários de saída da escola. Quando a diretoria anuncia o novo programa de liderança — com encontros presenciais semanais às 19h e um módulo intensivo de imersão em fim de semana — a mensagem formal é “investimento no desenvolvimento de talentos”. A mensagem que Laura recebe é outra: “este programa foi desenhado para quem tem estrutura doméstica que permite ausências noturnas e de fim de semana”. Ela poderia, tecnicamente, “se organizar”. Poderia pedir favores, contratar cuidadores temporários, fazer malabarismos. Poderia — e o fará, provavelmente, com custo emocional e financeiro desproporcional. O que não pode é mudar o fato de que sua realidade não estava no horizonte de quem desenhou as condições de acesso àquela oportunidade.
Esses não são casos extremos. São manifestações cotidianas de como sistemas comunicacionais e processuais operam exclusões silenciosas através de pressupostos não declarados sobre quem é o profissional “padrão” merecedor de consideração no design das estruturas organizacionais.
O Jargão Como Capital: Quando Complexificar É Estratégia de Distinção
Aqui reside uma das dinâmicas mais perversas da comunicação corporativa contemporânea: a transformação deliberada de clareza em hermético, de acessível em excludente. Não por acidente, por design estratégico de diferenciação.
Observe a proliferação de expressões importadas que colonizam os ambientes organizacionais brasileiros com a velocidade de uma epidemia linguística: “vamos fazer um deep dive no core business para delivery de outcomes alinhados aos stakeholders, garantindo mindset ágil e approach data-driven no touchpoint crítico dessa jornada de transformação”. Pause. Respire. Tente traduzir isso para alguém que trabalha há vinte anos na mesma empresa, com contribuições fundamentais, porém sem ter passado pelo batismo linguístico das escolas de negócios ou consultorias globais.
O que acabou de acontecer? Uma frase que poderia significar “vamos analisar profundamente nossa atividade principal para entregar resultados alinhados às pessoas envolvidas, mantendo agilidade e decisões baseadas em dados no momento crucial dessa mudança” foi transformada em código restrito. E esse código não é neutro. Ele funciona como senha de acesso. Como marcador de pertencimento a determinada casta profissional. Como sinalizador de que você possui o capital cultural adequado para transitar nos círculos onde decisões realmente acontecem.
A defesa da complexidade desnecessária como sinal de sofisticação revela, na verdade, um mecanismo sofisticado de distinção social transplantado para o capitalismo cognitivo. Quem domina o código hermético sinaliza capital cultural elevado e, portanto, legitimidade para ocupar posições de poder decisório. Quem tropeça nele, mesmo possuindo expertise técnica profunda ou experiência valiosa, é silenciosamente reclassificado como “desatualizado”, “resistente à mudança” ou “com dificuldade de acompanhar transformações”.
Veja o caso emblemático de Roberto, especialista em logística com três décadas de experiência operacional, responsável por otimizações que economizaram milhões para a empresa. Quando novos executivos chegam falando em “sinergia cross-funcional para unlock de eficiências através de quick wins em pipeline de iniciativas prioritárias”, Roberto não entende que estão propondo exatamente aquilo que ele já faz há anos com outro vocabulário. Ele percebe, com desconforto crescente, que sua linguagem direta — “vamos integrar as áreas para eliminar desperdícios e começar pelas melhorias rápidas mais importantes” — soa antiquada, insuficientemente sofisticada, inadequada para as salas onde estratégia é discutida.
A violência aqui não está em Roberto não compreender termos em inglês. Está em transformar o domínio desses termos em pré-requisito tácito para ser levado a sério, mesmo quando a substância da contribuição é idêntica. Está em usar linguagem como filtro que separa quem “pensa estrategicamente” (leia-se: fala o jargão correto) de quem “é operacional demais” (leia-se: usa português claro).
Esse fenômeno se intensifica quando observamos reuniões onde a performance linguística substitui a clareza conceitual. Alguém apresenta um projeto dizendo que vai “potencializar o awareness da marca no target através de omnichannel experience com foco em customer centricity e leveraging de assets digitais para maximizar engagement”. Todos acenam com a cabeça. Ninguém pergunta “o que, exatamente, você vai fazer?”. Porque perguntar seria admitir que não domina o código. Seria se expor como alguém que precisa de tradução. Seria sinalizar que não pertence ao círculo dos que naturalmente falam essa língua franca globalizada do management contemporâneo.
E assim, reuniões inteiras acontecem onde ninguém compreende completamente o que está sendo dito, ninguém tem coragem de pedir esclarecimento, e todos saem com a sensação difusa de que entenderam o suficiente — ou de que a falha em compreender plenamente é deficiência pessoal, não problema de comunicação. A clareza é sacrificada no altar da performatividade linguística. E o custo? Decisões baseadas em mal-entendidos, alinhamentos superficiais, execuções que divergem do pretendido porque ninguém realmente compreendeu o que estava sendo proposto sob as camadas de jargão industrializado.
A Banalização do Sofrimento: Quando Diagnósticos Viram Adjetivos Descartáveis
Mas há uma dimensão ainda mais insidiosa nessa dinâmica: a banalização do sofrimento através da linguagem cotidiana. Quando diagnósticos clínicos viram adjetivos de estresse — “estou tão TOC com essa organização”, “esse prazo está me deixando bipolar”, “preciso de remédio para aguentar essa reunião”, “só um autista não perceberia essa dica” — opera-se uma dupla violência.
Primeiro, trivializa-se experiências reais de sofrimento, transformando condições complexas em figuras de linguagem descartáveis. Segundo, reforça-se o estigma de que essas condições só são aceitáveis quando metaforizadas — ou seja, quando não são reais.
Marina vivencia isso diariamente. Diagnosticada com transtorno bipolar há cinco anos, ela gerencia a condição com tratamento rigoroso e é profissional de alta performance em sua área. Quando ouve colegas dizerem “nossa, essa mudança de direcionamento me deixou bipolar” para descrever indecisão administrativa, ou “o gestor está bipolar hoje, de manhã aprovou e à tarde mudou de ideia”, ela experimenta algo além de desconforto: a percepção aguda de que sua condição real foi transformada em caricatura que descreve instabilidade temperamental banal.
Para quem convive efetivamente com essas condições, o ambiente deixa de ser seguro no momento em que percebe que sua realidade foi transformada em recurso retórico para descrever o desconforto temporário de outros. A mensagem implícita é devastadora: sua existência só é tolerável quando não é literal. Quando se manifesta de fato, torna-se problema, limitação, algo que exige “adaptações especiais” — nunca uma dimensão legítima da diversidade humana que deveria estar naturalmente contemplada no desenho dos sistemas organizacionais.
O mesmo acontece com expressões aparentemente inofensivas que povoam conversas corporativas: “você ficou autista com esses detalhes”, “não precisa ter TOC com a formatação”, “essa reunião é tão TDAH, ninguém consegue focar”. Cada uma dessas frases carrega a mensagem de que neurodivergências são defeitos, exageros, problemas — não modos legítimos de experimentar e processar o mundo.
Carlos, designer com diagnóstico de autismo de suporte nível 1, é excepcional em perceber padrões visuais e inconsistências que outros não detectam — habilidade que já salvou projetos de erros custosos. Quando ouve “não fica autista com isso” como sinônimo de “não seja excessivamente detalhista”, ele compreende que sua forma específica de processar informação é vista como patologia a ser evitada, não como diversidade cognitiva que agrega valor. A empresa se beneficia de sua neurodivergência na prática, enquanto a ridiculariza na linguagem cotidiana.
Por Que a Simplicidade É Tão Ameaçadora?
Essa percepção nos conduz a uma questão fundamental: por que tantas organizações resistem à simplicidade comunicacional? Por que a clareza é frequentemente confundida com superficialidade, e a complexidade desnecessária interpretada como sofisticação intelectual?
A resposta revela dinâmicas de poder perturbadoras. Linguagem hermética funciona como dispositivo de distinção. Separa quem domina os códigos de quem precisa decifrá-los. Estabelece hierarquias sutis entre iniciados e profanos. Serve como marcador de pertencimento a determinados círculos. E, sobretudo, mascara a ausência de substância: é muito mais fácil parecer profundo sendo obscuro do que ser claro tendo algo efetivamente relevante a dizer.
Simplificar a comunicação sem empobrecer o conteúdo exige, paradoxalmente, domínio muito maior do que produzir textos rebuscados e estruturas sintáticas labirínticas. Clareza demanda rigor. Precisão conceitual. Capacidade de destilar essências sem perder complexidade. É infinitamente mais difícil — e por isso mesmo, muito mais revelador — do que a produção de documentos corporativos que funcionam como rituais de exclusão camuflados de formalidade profissional.
Quando uma apresentação executiva utiliza vinte slides repletos de gráficos sobrepostos, tabelas densas e texto em fonte oito para transmitir três insights principais, não está demonstrando profundidade analítica. Está demonstrando incapacidade de sintetizar — ou, pior, está usando complexidade visual como cortina de fumaça para esconder a fragilidade conceitual da proposta. Audiências são bombardeadas com informação na esperança de que a quantidade compense a falta de clareza estratégica.
O fenômeno se repete em políticas organizacionais escritas em juridiquês corporativo incompreensível, em processos descritos através de fluxogramas que exigem mestrado para decifrar, em manuais de conduta que ninguém lê porque são intencionalmente construídos para não serem lidos — apenas para proteger juridicamente a organização caso alguém alegue “não sabia das regras”.
A Ilusão da Neutralidade: Quando o Padrão Revela Suas Escolhas
Mas há ainda a exclusão que se disfarça de neutralidade técnica. O uso recorrente de masculinos genéricos, progressões de carreira estruturadas para trajetórias lineares sem interrupções, benefícios desenhados para configurações familiares específicas, são frequentemente defendidos como “tradição da língua”, “padrão administrativo” ou “modelo historicamente estabelecido” — como se fossem territórios neutros, isentos de perspectiva.
Não existe neutralidade em linguagem ou em sistemas. Toda escolha comunicacional e processual favorece certos modos de existir enquanto invisibiliza outros. Quando uma organização opta sistematicamente por masculinos genéricos nas comunicações, por exemplos que pressupõem trajetórias profissionais ininterruptas, por imagens institucionais que reproduzem representações homogêneas de liderança, ela não está sendo neutra. Está escolhendo ativamente quem estará no centro da narrativa institucional e quem precisará fazer o trabalho cognitivo de tradução e adaptação constantes.
Júlia experimenta isso visceralmente. Única mulher em posição de liderança técnica em sua área, ela perdeu a conta de quantas vezes leu comunicados sobre “os gerentes e seus times”, “o líder e suas decisões”, “o profissional que deseja crescer”. Tecnicamente, ela sabe que está incluída nesses genéricos masculinos. Simbolicamente, toda vez que lê essas construções, precisa fazer o exercício mental de se inserir em uma categoria linguística que não a reconhece espontaneamente. É trabalho cognitivo adicional. É lembrete constante de que o padrão pressuposto não contempla sua existência como ponto de partida natural.
O mesmo acontece com sistemas de avaliação de desempenho que penalizam gaps de experiência sem questionar suas origens, que valorizam “disponibilidade total” sem reconhecer que isso pressupõe estruturas de suporte doméstico específicas, que celebram “liderança assertiva” usando parâmetros comportamentais que penalizam mulheres quando adotam os mesmos comportamentos celebrados em homens.
Quando a neutralidade revelada é, na verdade, a universalização de uma experiência particular tratada como padrão, a exclusão opera com eficiência máxima justamente porque se recusa a se reconhecer como exclusão.
Comunicação Como Prática, Não Como Manual
Quando defendemos comunicação verdadeiramente inclusiva, não estamos propondo censura vocabular ou patrulhamento linguístico. Não se trata de substituir listas de palavras proibidas por outras permitidas, nem de seguir manuais que prescrevem fórmulas corretas. Trata-se de algo infinitamente mais exigente: desenvolver consciência sobre como cada escolha comunicacional distribui possibilidades de pertencimento. Como ela facilita ou obstrui o acesso. Como reconhece ou invisibiliza diversidades de processamento cognitivo, de trajetórias existenciais, de configurações identitárias.
É compreender que um e-mail aparentemente neutro pode carregar pressupostos excludentes. Que um formulário padrão pode funcionar como barreira para existências não contempladas em seu desenho. Que piadas cotidianas sobre saúde mental podem tornar ambientes hostis para quem as vive literalmente. Que a complexidade gratuita não demonstra profundidade intelectual — apenas desconhecimento sobre a própria audiência diversa.
Praticar essa consciência comunicacional se assemelha, de fato, a uma disciplina contínua. Não há ponto de chegada, certificação final, estado de perfeição alcançado. Há processo. Atenção sustentada. Disponibilidade para revisar automatismos. Coragem para desafiar tradições que se revelam excludentes quando submetidas ao questionamento. Flexibilidade para ajustar estruturas que pareciam naturais, eram apenas naturalizadas pela repetição acrítica.
E talvez a pergunta mais reveladora que uma organização pode se fazer não seja “nossa comunicação está correta?”, e sim: “que mundo nossa comunicação constrói? Que existências ela legitima como centrais e quais relega às margens? Quem precisa fazer esforço desproporcional para acessar o que deveria ser direito básico de pertencimento?”.
Porque comunicação não é mero instrumento de transmissão. É materialização de valores. Expressão concreta de como a organização concebe humanidade, diversidade, dignidade. Uma empresa pode ter políticas impecáveis de diversidade e inclusão nos documentos institucionais. Se sua comunicação cotidiana pressupõe um destinatário único, se seus sistemas excluem silenciosamente diversidades de processamento e existência, se sua linguagem perpetua invisibilidades — então a cultura real daquela organização não está nos valores declarados. Está inscrita nas estruturas comunicacionais que determinam, no dia a dia, quem é visto, quem é ouvido, quem é considerado.
A exclusão mais eficiente não é aquela que proíbe a entrada. É aquela que permite a presença física enquanto torna a pertença psicológica estruturalmente inacessível. E frequentemente, essa exclusão opera através de escolhas comunicacionais que jamais foram pensadas como escolhas — apenas reproduzidas como “o modo como sempre fizemos as coisas”.
Desautomatizar essas reproduções. Submeter à reflexão crítica o que parecia natural. Reconhecer que neutralidade é sempre ilusória e que toda linguagem posiciona pessoas em hierarquias de relevância. Assumir responsabilidade pelas arquiteturas comunicacionais que construímos, conscientes de que elas não apenas transmitem informações, distribuem dignidade, possibilidades de pertencer, direito de existir sem precisar traduzir-se constantemente.
Não há fórmula pronta para essa transformação. Há apenas o compromisso de praticá-la continuamente, percebendo que cada palavra, cada estrutura, cada pressuposto não declarado carrega potencial de incluir ou excluir, de reconhecer ou invisibilizar, de dignificar ou diminuir. E que, no final, organizações verdadeiramente comprometidas com diversidade não são aquelas que falam sobre ela nos materiais institucionais. São aquelas cuja comunicação cotidiana a materializa em cada mensagem enviada, em cada formulário desenhado, em cada escolha linguística que afirma: aqui, sua existência específica foi considerada. Você não precisa se traduzir para caber. Você já pertence.
________________________________________
#comunicaçãoinclusiva #culturaorganizacional #diversidadereal #linguagemeinclusão #liderançaconsciente #transformaçãocorporativa #pertencimento #desenvolvimentohumano #gestãodepessoas #psicologiaorganizacional #comportamentohumano #inclusãoreal #neurodiversidade #saudemental #jargãocorporativo #capitalismocognitivo #marcellodesouza #marcellodesouzaoficial #coachingevoce
________________________________________
Gostou deste conteúdo? Acesse meu blog em www.marcellodesouza.com.br e explore centenas de artigos sobre desenvolvimento cognitivo comportamental humano e organizacional, transformação cultural autêntica e construção de relações verdadeiramente conscientes. Todo mês, milhares de leitores encontram lá insights que desafiam o senso comum e provocam mudanças estruturais reais.
Você pode gostar

DECIDIR QUEM FICA
4 de abril de 2020
LÍDER IDEAL É UM LÍDER EMPREENDEDOR?
7 de dezembro de 2023

