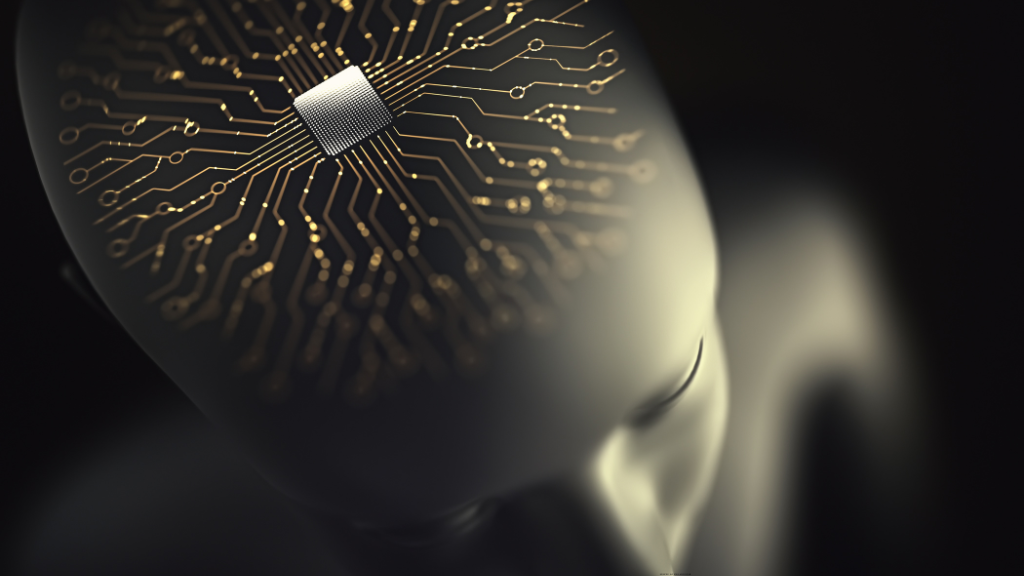
O QUE NOS TORNAMOS QUANDO PARAMOS DE PENSAR
O que acontece quando uma civilização inteira terceiriza o pensamento? Descubra como a tecnologia revela — e acelera — a maior crise cognitiva da história humana. – Marcello de Souza
Na madrugada de uma terça-feira qualquer de fevereiro de 2026, uma inteligência artificial terminou de escrever o código que daria origem à sua versão seguinte. Não houve cerimônia. Não houve espanto. A notícia circulou entre duas manchetes sobre celebridades e um vídeo de trinta segundos sobre receitas proteicas, e desapareceu. No mesmo dia, em um país do hemisfério norte, um adolescente que não falava com ninguém há meses entrou em uma escola e abriu fogo contra desconhecidos. Na mesma semana, o último tratado que limitava o maior arsenal destrutivo já criado pela espécie expirou — e o feed continuou rolando.
Em algum escritório de uma metrópole qualquer, um executivo pediu a um algoritmo que resumisse em três bullets o relatório de duzentas páginas que explicava por que sua empresa estava perdendo relevância — e tomou uma decisão de milhões baseada nesse resumo. Em outro andar do mesmo edifício, um diretor de recursos humanos assinou a demissão de duzentos funcionários com a justificativa de que “a inteligência artificial assumirá essas funções” — sem que nenhum sistema de IA estivesse sequer em fase de teste para executar qualquer uma delas.
Nenhum desses eventos está desconectado do outro.
Todos são sintomas da mesma fratura. Uma fratura que não aparece em nenhum exame, que não entra em nenhum relatório trimestral, que não gera trending topic — justamente porque quem deveria diagnosticá-la já está demasiado anestesiado para percebê-la.
A fratura é cognitiva. E é voluntária.
Existe um tipo de morte que não aparece em nenhum obituário. Não tem data, não deixa corpo, não provoca funeral. É a morte do pensamento — e ela acontece todos os dias, em silêncio, diante de uma tela iluminada, enquanto dedos deslizam e o cérebro obedece.
Não estamos falando de ignorância. Ignorância sempre existiu e, a seu modo, sempre teve a honestidade de se reconhecer como lacuna. O que acontece agora é de outra natureza — mais sofisticado, mais sedutor, infinitamente mais perigoso. Estamos diante da primeira civilização que tem acesso irrestrito ao conhecimento acumulado da espécie e que, paradoxalmente, pensa menos do que qualquer geração anterior. Não porque falta conteúdo. Não porque falta estímulo. Porque sobra atalho. Porque a preguiça cognitiva se fantasiou de eficiência. Porque o cálculo tomou o lugar da reflexão — e quase ninguém percebeu que isso não é a mesma coisa.
Há um abismo entre processar dados e pensar. Processar dados é sequenciar, categorizar, devolver respostas dentro de padrões previsíveis. Pensar é outra coisa. Pensar exige dúvida, desconforto, contradição, ruptura. Exige suportar o vazio que antecede toda ideia genuína. Exige permanecer no não saber — ali, naquele território sem mapa — pelo tempo necessário para que algo verdadeiramente novo se forme. Acontece que o não saber virou intolerável. A pausa virou patologia. O silêncio virou ameaça. E então corremos para a resposta instantânea, para o algoritmo que já mastigou a conclusão, para a máquina que nos devolve em segundos aquilo que levaríamos horas para construir — horas que, justamente por existirem, nos transformariam no processo.
Porque é no tempo da elaboração que o pensamento se torna carne. É na lentidão da construção que algo dentro de nós se reorganiza, se expande, se reconhece. A resposta instantânea nos entrega o resultado — entrega o produto final. O que ela rouba é o processo. E sem processo, não há transformação. Há apenas consumo.
Pense naquele executivo do início deste texto. Ele não é incompetente. É provavelmente brilhante. Formado nas melhores escolas, fluente em dados, cercado de ferramentas de última geração. Tudo o que a civilização contemporânea poderia oferecer a uma mente, ele tem. O que lhe falta é exatamente o que nenhuma ferramenta pode dar: o hábito de sentar com a complexidade, de sentir, de refletir, de rever sua própria trajetória, de resistir ao impulso de simplificar antes de compreender — e, antes de tudo, de saber quais perguntas precisam ser feitas antes de sair procurando respostas. A planilha não faz essa pergunta. O algoritmo não faz essa pergunta. Só uma mente presente, inteira, disposta a habitar o desconforto, faz essa pergunta. Ele tomou uma decisão baseada em três bullets. O que estava na página cento e quarenta e sete — aquela nuance que contradizia a conclusão geral, aquele detalhe que exigia uma segunda leitura, aquele dado incômodo que pedia reflexão — simplesmente desapareceu. Não porque a máquina errou. Porque ele pediu que ela resumisse. E resumir, quando feito sem critério, é o nome elegante de automutilar.
Agora pense naquele diretor de recursos humanos. Ele também não é incompetente. Mas a decisão que tomou pertence a uma categoria cognitiva ainda mais perturbadora: a da antecipação vazia. Ele não demitiu porque a inteligência artificial substituiu o trabalho daquelas pessoas. Demitiu porque acreditou que substituiria. Agiu sobre uma promessa — não sobre uma realidade. Pesquisadores que estudaram esse fenômeno em escala global encontraram algo que deveria nos alarmar: a esmagadora maioria das demissões atribuídas à IA não resulta da automação efetiva, mas da expectativa de automação. São decisões antecipatórias. São apostas. São o equivalente corporativo de vender a casa antes de verificar se o novo endereço existe.
E aqui se revela algo que nenhum relatório de tendências ousou nomear: o que está em jogo não é uma revolução tecnológica — é uma epidemia de covardia intelectual disfarçada de visão estratégica. Demitir porque “a IA vai assumir” é cognitivamente mais fácil do que enfrentar as perguntas que realmente importam: o que precisamos redesenhar nos nossos processos? Que competências precisamos desenvolver na nossa gente? Que tipo de inteligência — a humana, a artificial, ou a integração entre ambas — este desafio específico exige? Essas perguntas demoram. São complexas. Não cabem em três bullets. E por isso são ignoradas em favor do atalho narrativo mais sedutor do momento: “a IA resolve.”
Não resolve. E as evidências já estão aí. Empresas que demitiram equipes inteiras para substituí-las por sistemas automatizados tiveram que recontratar às pressas, em silêncio, quando descobriram que a IA não opera de forma autônoma. Consultorias que acompanham o fenômeno projetam que mais da metade dessas demissões será silenciosamente revertida — porque o custo de descobrir a realidade depois de ter agido sobre a fantasia é sempre mais alto do que o custo de pensar antes de agir. Há um nome técnico para essa prática: AI-washing — a arte de atribuir decisões financeiras à narrativa tecnológica para parecer inovador diante do mercado enquanto se mascaram erros de gestão.
Mas há algo mais profundo nesse fenômeno — e é aqui que a questão transcende a gestão e entra no território do comportamento humano em sua dimensão mais reveladora.
Essas demissões antecipatórias não são apenas decisões isoladas de executivos. São sintomas de algo que opera no subsolo das organizações e das sociedades: o mimetismo decisório. Nenhum desses dirigentes chegou à conclusão de demitir porque analisou, com rigor e profundidade, a capacidade real da IA para substituir funções específicas na sua operação. A maioria demitiu porque outros demitiram. Porque CEOs de empresas maiores anunciaram cortes, porque a narrativa dominante declarou que quem não “adota IA agressivamente” ficará para trás, porque o custo reputacional de parecer lento superou o custo real de agir sem fundamento. Isso não é estratégia. É contágio. É o pensamento de manada vestido de terno e gravata — a mesma dinâmica que move bolhas financeiras, que alimenta pânicos coletivos, que faz civilizações inteiras marcharem na direção errada com absoluta convicção. René Girard nomeou esse mecanismo com precisão cirúrgica: o desejo mimético — não desejamos o que avaliamos, desejamos o que o outro deseja. E quando esse mecanismo opera no nível da decisão corporativa, o resultado não é inovação — é imitação reativa travestida de pioneirismo.
E o mercado, esse termômetro imperfeito, mas revelador, começou a perceber. Houve um tempo em que anunciar demissões fazia as ações subirem — era lido como “gestão eficiente”, “foco em resultado”. Esse tempo está acabando. Os investidores estão começando a distinguir o corte cirúrgico do amputamento cego. E quando essa distinção se consolida, os executivos que agiram por mimetismo — e não por análise — encontrarão a si mesmos numa posição que nenhum algoritmo poderá resolver: a de ter destruído capital humano insubstituível em nome de uma promessa que nunca avaliaram com rigor.
Estamos consumindo respostas como quem consome fast food: engolimos sem mastigar, sem saborear, sem deixar que o organismo reconheça o que está recebendo. E o resultado é o mesmo — uma saciedade ilusória que esconde uma fome cada vez mais profunda. Fome de sentido. Fome de profundidade. Fome daquilo que nenhuma tela pode entregar: a experiência de ter construído algo com as próprias mãos cognitivas.
E aqui a questão deixa de ser tecnológica e se torna radicalmente existencial.
A tecnologia nunca foi a vilã. O fogo não era vilão quando queimava aldeias — era a mesma substância que iluminava cavernas e cozinhava alimentos. A roda não era vilã quando esmagava — era a mesma estrutura que transportava. A questão nunca foi a ferramenta. A questão sempre foi: quem a segura? E, antes disso: o que essa pessoa fez de si mesma antes de segurá-la?
O que estamos testemunhando não é a ascensão das máquinas. É a abdicação dos humanos. Uma renúncia lenta, confortável, quase prazerosa. Ninguém nos obrigou a parar de pensar. Nós escolhemos. Escolhemos a cada vez que pedimos a uma máquina para escrever o que poderíamos ter escrito. A cada vez que aceitamos uma curadoria algorítmica no lugar de uma investigação própria. A cada vez que preferimos a opinião empacotada ao trabalho extenuante de construir a nossa. A cada vez que demitimos seres humanos com base numa projeção que ninguém se deu ao trabalho de interrogar. O algoritmo não invadiu nosso cérebro — nós abrimos a porta, oferecemos o sofá e pedimos que ficasse à vontade.
E aqui está o paradoxo que deveria nos tirar o sono: nunca produzimos tanto conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, sobre os mecanismos do comportamento, sobre a arquitetura das emoções — e nunca soubemos tão pouco sobre o que significa, de fato, ser humano. Acumulamos dados sobre sinapses, mapeamos circuitos de recompensa, deciframos padrões de ativação neural — com uma precisão que há trinta anos seria ficção científica. Acontece que esse conhecimento fragmentado, esse saber em fatias, essa hiperespecialização que disseca o sujeito em pedaços disciplinares desconectados, não nos tornou mais conscientes. Tornou-nos mais eficientes em descrever partes sem jamais compreender o todo.
Sabemos tudo sobre as peças. Não sabemos quase nada sobre o que acontece quando elas se juntam.
É como se tivéssemos desmontado um relógio com perfeição cirúrgica — cada engrenagem catalogada, cada mola medida, cada rubi documentado — sem jamais ter se perguntado o que é o tempo. Confundimos desmontar com entender. Confundimos descrever com compreender. Confundimos a sofisticação do instrumento com a profundidade do olhar.
Essa fragmentação não ficou confinada aos laboratórios. Ela vazou. Contaminou a forma como nos relacionamos, como tomamos decisões, como enxergamos o outro e a nós mesmos. Uma civilização que pensa em fragmentos age em fragmentos. E quando age em fragmentos, produz consequências que parecem inexplicáveis — quando, na verdade, são perfeitamente lógicas dentro da lógica do estilhaço.
Volte àquele adolescente que entrou na escola. Os pesquisadores que estudaram casos como o dele — dezenas, centenas deles, espalhados por países com culturas radicalmente diferentes — encontraram algo que deveria nos paralisar: o denominador comum não é doença mental, não é acesso a armas, não é ideologia. É isolamento. Desconexão profunda e prolongada de qualquer vínculo humano significativo. Pessoas cercadas de dispositivos de comunicação que nunca estiveram tão sós. Corpos hiperconectados e almas inteiramente desvinculadas da própria espécie.
E isso nos conduz a uma dimensão do problema que raramente é nomeada: a atrofia cognitiva não é apenas individual — ela é contagiosa. Não é só que cada mente se apaga sozinha; é que mentes apagadas retroalimentam o apagamento umas das outras. O algoritmo não funciona no vácuo; opera dentro de uma rede de validação mútua onde pensamentos rasos confirmam pensamentos rasos, onde a superficialidade se torna norma social, onde questionar passou a ser socialmente mais custoso do que concordar. Uma pessoa que para de pensar perde uma capacidade. Mas uma comunidade inteira que para de pensar perde algo infinitamente mais grave: perde o espelho. Perde a possibilidade de que alguém, em algum momento, diga aquilo que precisamos ouvir e que jamais diríamos a nós mesmos. Quando o pensamento crítico se torna exceção numa rede social, numa equipe, numa família, numa cultura — ele deixa de ser uma faculdade individual que alguns exercem e passa a ser uma transgressão que quase ninguém ousa cometer.
Isso transforma a atrofia cognitiva num fenômeno epidemiológico. Não é metáfora. É mecanismo. A neurociência junto com a psicologia social demonstra que nossos cérebros se regulam mutuamente — somos sistemas nervosos em rede, literalmente moldados pelas mentes com as quais convivemos. Quando o ambiente cognitivo ao redor se empobrece, o custo de manter a própria densidade reflexiva aumenta exponencialmente. Pensar bem, num ecossistema que premia pensar rápido, não é apenas difícil — é socialmente penalizado. E é exatamente aqui que a espiral se retroalimenta: quanto menos gente pensa, mais caro fica pensar, e quanto mais caro fica pensar, menos gente pensa.
Isso não é exceção. É amplificação do que acontece, em escala menor e menos dramática, em milhões de vidas todos os dias. O jovem que passa oito horas diárias em redes sociais e não consegue sustentar uma conversa de dez minutos olhando nos olhos de alguém. O adulto que tem quinhentos contatos no celular e ninguém para quem ligar às três da manhã quando o chão desaba. O casal que dorme lado a lado, cada um imerso em sua tela, sem se tocar — nem no sentido físico, nem no sentido que realmente importa. A organização que substitui duzentas pessoas por uma promessa tecnológica e descobre, meses depois, que o que aquelas pessoas faziam era irreproduzível — porque não era apenas trabalho, era inteligência tácita, era julgamento situacional, era presença humana operando num nível que nenhum algoritmo consegue mapear, muito menos substituir.
Quando o pensamento fragmentado governa nações, reduz territórios a ativos, pessoas a custos, culturas a commodities. Quando governa organizações, transforma estratégia em reação sofisticada, liderança em gestão de dashboards, capital humano em linha de despesa. Quando governa relações, transforma intimidade em proximidade algorítmica e presença em performance. É a mesma lógica operando em escalas diferentes — a mesma barbárie cognitiva aplicada a domínios que exigem exatamente o oposto da barbárie: exigem integração, nuance, capacidade de suportar o peso do que não cabe numa planilha.
Cada um desses eventos — o adolescente isolado, o tratado dissolvido, o trabalhador descartado antes que a máquina que o “substituiria” sequer exista, a própria máquina que se autorreplica — é consequência, não causa. São frutos de mentes que foram treinadas para calcular sem compreender, para fragmentar sem integrar, para reagir sem refletir. O mundo lá fora é o espelho do que acontece aqui dentro. E o espelho não mente.
Há três movimentos que definem a trajetória cognitiva de qualquer ser humano diante da tecnologia — e que definem, no fundo, o que ele se torna.
O primeiro é o começo: como alguém nasce para o pensamento. Todo ser humano chega ao mundo com uma curiosidade voraz — uma fome de entender que não pede permissão, não espera currículo, não precisa de incentivo. Uma criança pergunta “por quê?” com uma insistência que envergonharia qualquer filósofo. Esse impulso original, essa sede de compreensão, é o capital cognitivo mais precioso que existe. E é exatamente ele que as telas começam a corroer antes mesmo que a criança aprenda a amarrar os sapatos. Quando substituímos a exploração pelo conteúdo pronto, quando trocamos a pergunta pela resposta empacotada, quando encurtamos o circuito da descoberta com estímulos instantâneos, não estamos educando — estamos amputando. Estamos cortando a raiz antes que a árvore tenha chance de existir.
O segundo é o meio: como alguém se desenvolve ou se atrofia ao longo da vida. Aqui mora a encruzilhada. De um lado, o caminho da construção: usar a tecnologia como extensão de uma mente que já faz o trabalho de pensar — que questiona, duvida, confronta, elabora, integra. Uma mente que chega à máquina já sabendo o que perguntar e, mais importante, já sabendo desconfiar da resposta. Do outro lado, o caminho da terceirização: delegar à máquina não apenas o trabalho operacional — o que é legítimo e inteligente —, mas o trabalho reflexivo. Delegar a curadoria do que ler, do que pensar, do que sentir. Entregar ao algoritmo a função mais humana que existe: a de construir sentido.
Observe a diferença na prática. Dois profissionais recebem a mesma notícia: sua empresa está adotando IA generativa. O primeiro para. Estuda o que a tecnologia realmente faz — e o que não faz. Mapeia quais das suas atividades são automatizáveis e quais dependem de julgamento, intuição, contexto relacional. Redesenha seu papel não como resistência à mudança, mas como integração consciente. Torna-se mais valioso, não apesar da tecnologia, mas através da forma como se posiciona diante dela. O segundo entra em pânico — ou, pior, em indiferença. Aceita a narrativa dominante (“a IA vai fazer tudo”), não investiga, não questiona, não se reposiciona. Espera que alguém — a empresa, o mercado, o destino — resolva por ele. Um está construindo soberania cognitiva. O outro está terceirizando a própria relevância.
Quem trilha o primeiro caminho usa a tecnologia e se torna mais. Quem trilha o segundo é usado pela tecnologia e se torna menos. Não menos produtivo — menos humano.
O terceiro é o fim: o que nos tornamos. E é aqui que a bifurcação se revela com toda a sua crueza — não apenas na vida pessoal, mas nas salas onde se decide o destino de milhares.
De um lado, o sujeito que integrou tecnologia e consciência — que sabe usar o cálculo sem se reduzir a ele, que navega no digital sem perder o chão do real, que conversa com máquinas sem esquecer como se conversa com pessoas. Do outro, o sonâmbulo funcional: aquele que se move, que produz, que consome, que posta, que reage — tudo sem jamais ter parado para se perguntar por quê. Que atravessa a vida inteira no piloto automático de estímulos e respostas, confundindo reação com decisão, impulso com vontade, agitação com vida.
Agora transporte essa bifurcação para dentro de uma organização. Para a sala de reuniões onde um comitê executivo decide a estratégia dos próximos cinco anos. O dashboard em tempo real está ali, luminoso, sedutor, com seus gráficos impecáveis. A síntese algorítmica já digeriu terabytes de dados e entregou as conclusões em formato palatável. A máquina fez a sua parte — com uma competência que nenhum ser humano isolado poderia igualar. A questão é: alguém naquela sala ainda se pergunta por quê? Alguém questiona o que o dashboard não mostra? Alguém desconfia do que a síntese excluiu ao sintetizar? Alguém suporta o desconforto de dizer “eu não sei” diante de um conselho inteiro que espera certezas?
E aqui, a mesma patologia que gera as demissões antecipatórias se revela em sua estrutura profunda: não é que esses executivos não saibam pensar — é que o ambiente em que operam tornou o pensamento genuíno um ato de risco. Discordar do consenso algorítmico tem custo político. Pedir mais tempo para analisar tem custo reputacional. Sugerir que talvez a IA não substitua determinadas funções humanas tem custo narrativo — porque a narrativa dominante já decidiu que “ou você adota ou fica para trás”. E assim, o mimetismo que opera no nível interempresarial se reproduz no nível intraorganizacional: ninguém ousa dizer que o rei está nu, porque todos estão ocupados demais aplaudindo o tecido invisível.
Que tipo de estratégia nasce de mentes que terceirizaram a elaboração do porquê?
A resposta está nos resultados que vemos todos os dias. Empresas que otimizaram tudo — menos o sentido do que fazem. Organizações que medem tudo — menos o que importa medir. Lideranças que calculam riscos com precisão milimétrica — e não conseguem perceber que o maior risco é a atrofia coletiva do pensamento crítico que ninguém coloca na planilha. O mesmo exílio cognitivo que corrói o indivíduo corrói, silenciosamente, a inteligência coletiva das organizações que deveriam ser faróis. E quando a inteligência coletiva se atrofia, o que resta não é estratégia — é reação sofisticada. É piloto automático de alta performance. É sonambulismo corporativo com crachá premium.
O sonambulismo funcional não é ficção. É o nome preciso para uma civilização de corpos despertos e mentes adormecidas. É o shopping center lotado de gente que não sabe por que está ali. É a rede social com bilhões de usuários que nunca se perguntaram quem são fora do perfil que exibem. É a relação afetiva mantida por inércia algorítmica — o aplicativo sugere, o corpo comparece, a alma falta. É a sala de reunião onde dez mentes brilhantes concordam com a conclusão do algoritmo sem que nenhuma delas tenha feito o trabalho de chegar, por conta própria, a uma conclusão diferente. É o comitê executivo que decide eliminar duzentos postos de trabalho porque três concorrentes fizeram o mesmo — sem que ninguém tenha perguntado se os concorrentes sabiam o que estavam fazendo ou se estavam, eles também, apenas imitando quem veio antes.
E o mais perturbador: o sonâmbulo funcional não se reconhece como tal. Ele se acha ativo porque está ocupado. Se acha informado porque consome conteúdo. Se acha conectado porque tem seguidores. Se acha estratégico porque tem dados. Se acha inovador porque demite em nome da tecnologia. Se acha vivo porque respira. A confusão entre movimento e vida é a assinatura da nossa era.
Acontece que existe outra possibilidade. E ela não mora no futuro — mora na decisão que cada indivíduo toma hoje, agora, neste exato momento em que está lendo estas palavras.
A possibilidade de religar. Religar o cálculo à reflexão. A informação ao sentido. O fragmento ao todo. A velocidade à profundidade. O digital ao humano. A promessa tecnológica à análise rigorosa da realidade. A decisão estratégica ao pensamento que a precede — e que nenhuma máquina pode fazer em nosso lugar. Religar não é retroceder — não é rejeitar a tecnologia, não é fetichizar o passado. Religar é a operação cognitiva mais sofisticada que um ser humano pode realizar: é juntar o que foi separado sem perder a especificidade de cada parte. É pensar com a potência do todo sem abrir mão da precisão do detalhe.
Religar é o que acontece quando alguém usa uma inteligência artificial para pesquisar — e depois senta, sozinho, em silêncio, para pensar sobre o que encontrou. Quando alguém navega nas redes para expandir repertório — e depois desliga tudo para sentir o que aquilo provocou por dentro. Quando alguém lê uma notícia sobre o mundo em chamas e, em vez de compartilhar com raiva reflexa, para e se pergunta: o que em mim — e na forma como penso — também contribui para esse incêndio? Quando um líder recebe a recomendação de demitir metade da equipe “porque a IA assume” e, em vez de assinar, para e pergunta: assume o quê, exatamente? Quando? Com que evidência? E o que perco — o que não consigo medir e que talvez não consiga recuperar — se agir sobre uma promessa e não sobre uma realidade?
Porque a verdade que ninguém quer ouvir é esta: o mundo lá fora é consequência do mundo aqui dentro. As decisões que perpetuam violências, que dissolvem tratados, que isolam jovens até o ponto de ruptura, que descartam pessoas como itens de planilha em nome de uma automação que ainda não existe, que transformam organizações inteiras em máquinas de reagir sem pensar — essas decisões não nascem no vácuo. Nascem em mentes. Mentes que foram treinadas — ou que se deixaram treinar — para calcular sem compreender, para fragmentar sem integrar, para reagir sem refletir. E nascem, sobretudo, em ecossistemas cognitivos onde essas mentes se confirmam mutuamente na superficialidade, onde ninguém interrompe o circuito porque interromper custa caro demais.
Mudar o mundo sem mudar a mente que o produz é trocar a moldura de um quadro que continua o mesmo. E é exatamente isso que fazemos há décadas: reformas, políticas, tecnologias, programas, plataformas — tudo muda por fora, nada muda por dentro. A mesma lógica fragmentada produz as mesmas consequências fragmentadas, agora apenas em alta definição e com streaming ao vivo.
A revolução que importa não é tecnológica. É cognitiva. E cognitiva não significa apenas intelectual — significa comportamental, emocional, relacional, existencial. Significa mudar a forma como o pensamento opera antes de mudar o que ele produz. Significa reconstruir, no interior de cada sujeito e no tecido das relações que o constituem, a capacidade de integrar o que foi separado, de suportar a complexidade sem reduzi-la, de habitar a incerteza sem fugir para a primeira certeza disponível — e de resistir ao contágio do pensamento raso quando ele se apresenta disfarçado de inovação, de eficiência ou de inevitabilidade.
Isso não é otimismo ingênuo. Ingenuidade seria acreditar que mais tecnologia resolve o que a tecnologia sozinha nunca resolverá. Ingenuidade seria esperar que a máquina nos salve do trabalho que só nós podemos fazer. Ingenuidade seria demitir quem pensa com a promessa de que a máquina pensará no lugar — e descobrir, tarde demais, que pensar era a única coisa que a máquina nunca poderia fazer. A esperança genuína — a única que merece esse nome — não é passiva. É ato. É decisão. É o exercício mais radical de inteligência que existe: olhar para o abismo do que nos tornamos e recusar-se a aceitar que esse seja o destino final.
Porque não é.
Somos a mesma espécie que inventou a linguagem, a música, a matemática, a poesia, a filosofia, a medicina, a arte — cada uma dessas conquistas nasceu de uma mente que se recusou a aceitar o mundo como ele era e ousou pensá-lo como ele poderia ser. Cada uma nasceu de alguém que suportou o desconforto de não saber, que habitou o vazio criativo o tempo necessário, que resistiu ao atalho e escolheu o caminho longo — porque sabia, intuitivamente, que o caminho longo era o único que levava a algum lugar que valesse a pena.
Essa capacidade não desapareceu. Está adormecida. Está sepultada sob camadas de estímulo, de ruído, de urgência fabricada, de respostas que chegam antes da pergunta. Está anestesiada pela comodidade de não precisar pensar. E está sendo ativamente enfraquecida por um ecossistema que premia a velocidade sobre a profundidade, o consenso sobre a verdade, a narrativa sobre a evidência.
Acordá-la não é desligar a tela. Desligar a tela é fácil — e temporário. Qualquer pessoa pode desligar uma tela e continuar pensando exatamente como a tela a treinou para pensar. Da mesma forma, qualquer organização pode adotar a tecnologia mais avançada do planeta e continuar operando com a mesma pobreza reflexiva de sempre — agora apenas mais rápido e com dashboards mais bonitos.
Acordar é outra coisa. Acordar é recusar a inércia do pensamento mimético — aquele que imita porque imitar é seguro. Acordar é suportar o custo social de perguntar “por quê?” quando todos ao redor já decidiram o “como”. Acordar é olhar para a inteligência artificial não como substituta nem como ameaça, mas como espelho: uma máquina que processa, calcula e otimiza com perfeição, revelando, por contraste, aquilo que nenhuma máquina consegue fazer — duvidar de si mesma, integrar contradições, construir sentido a partir do caos, reconhecer no outro um semelhante.
A pergunta que permanece — a única que merece permanecer — é esta:
E se o maior ato de resistência, hoje, não for desligar a tela — mas religar o que dentro de nós ainda resiste a ser substituído?
#pensamentocrítico #desenvolvimentocognitivo #inteligênciahumana #tecnologiaeconsciência #atrofiacognitiva #soberaniaintelectual #evoluçãohumana #religaropensamento #comportamentohumano #transformaçãocognitiva #relaçõeshumanas #autoconhecimento #desenvolvimentocomportamental #mundodigital #IAehumanidade #liderançaconsciente #culturaorganizacional #demissõesporIA #mimetismocorporativo #inteligênciacoletiva #AIwashing #pensamentocríticoorganizacional #marcellodesouza #marcellodesouzaoficial #coachingevoce
✦ Se este texto provocou algo em você — uma inquietação, uma fagulha, uma vontade de ir mais fundo — eu o convido a visitar o meu blog: www.marcellodesouza.com.br. Lá você encontra centenas de publicações sobre desenvolvimento cognitivo comportamental humano, organizacional e sobre relações humanas saudáveis e evolutivas. Cada texto é uma porta. O que você faz depois de cruzá-la é decisão sua.

O TRIBUNAL QUE NÃO EXISTE

LO QUE NOS CONVERTIMOS CUANDO DEJAMOS DE PENSAR
Você pode gostar

VOCÊ É MAIS BEM-SUCEDIDO DO QUE ACREDITA, VOCÊ SABIA?
27 de julho de 2023
AUTENTICIDADE EM TEMPOS DE IMITATIVIDADE
12 de outubro de 2024