
19 DE DEZEMBRO: O DIA EM QUE O TEMPO DEIXA DE NOS GOVERNAR
Existe uma mentira coletiva que repetimos todos os anos, geralmente entre o dia 25 de dezembro e o dia 2 de janeiro: a de que a mudança verdadeira começa quando o calendário vira. Como se a passagem de um dígito — de 2025 para 2026 — carregasse consigo algum poder mágico de redenção, como se a meia-noite do dia 31 fosse um portal ontológico capaz de apagar quem fomos e inaugurar quem desejamos ser. Essa crença não é ingênua. Ela é funcionalmente sofisticada, neurologicamente reforçada e culturalmente indispensável. Chamá-la de ilusão seria generoso demais. Trata-se, na verdade, de uma estratégia coletiva de fuga — um mecanismo de defesa refinado contra aquilo que mais nos aterroriza: a continuidade implacável da existência.
Porque o tempo real, aquele que atravessa nosso corpo sem pedir licença, não respeita cesuras gregorianas. Ele não pausa para aplausos na virada. Não concede intervalos simbólicos entre capítulos. Ele simplesmente continua — indiferente às nossas promessas, às nossas listas de resoluções, aos nossos rituais de expiação coletiva. E é exatamente essa continuidade — essa ausência de bordas nítidas, de pontos finais, de reinicializações — que nos lança numa angústia estrutural. Não sabemos habitar o fluxo puro do tempo. Precisamos fragmentá-lo, nomeá-lo, dividi-lo em unidades digestíveis. Precisamos acreditar que algo terminou para que possamos acreditar que algo pode começar.
O problema é que essa fragmentação tem um preço oculto. Quanto mais delegamos a transformação ao calendário, mais atrofiamos nossa capacidade de gerar mudança na imanência do cotidiano. Quanto mais esperamos o “próximo ano”, mais nos tornamos espectadores passivos da nossa própria existência, terceirizando a autoria da vida para datas externas que nunca chegam de verdade. Porque quando janeiro finalmente aparece, trazendo consigo a ressaca das promessas grandiosas, descobrimos que nada mudou estruturalmente. Os mesmos padrões se repetem. As mesmas microdecisões inconscientes nos conduzem de volta aos trilhos conhecidos. E então, exaustos pela decepção previsível, fazemos aquilo que fazemos melhor: adiamos novamente. “No próximo ano vai ser diferente.”
Este texto não é sobre otimismo de fim de ano. É sobre a tirania do calendário — e sobre como recuperar a soberania sobre o tempo vivido antes que janeiro chegue.
________________________________________
A Anestesia Cronológica: Como Terceirizamos a Mudança para o Calendário
A cesura do dia 31 de dezembro não é apenas um costume social inofensivo. Ela é um dispositivo psíquico coletivo que opera como anestesia cronológica: um modo de interromper temporariamente a angústia de ser um projeto inacabado, de carregar pendências, de acumular decepções. O cérebro humano, especialmente os circuitos envolvidos na regulação emocional e na construção de narrativas autobiográficas, não foi projetado para tolerar indefinidamente a ausência de marcos prospectivos. Quando vivemos num estado de continuidade pura — sem pontos de chegada visíveis, sem momentos de “virada” simbólica — o sistema nervoso interpreta isso como ameaça difusa. A amígdala se mantém em estado de alerta crônico. O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal libera cortisol de forma persistente. O corpo não descansa porque a mente não encontra bordas onde possa pausar.
É aí que entra o ritual da virada do ano. Ele oferece exatamente aquilo que o cérebro implora: uma borda artificial, um ponto de interrupção fictício, uma narrativa de encerramento que permite descarregar a tensão acumulada. “Este ano acabou. O próximo será diferente.” Essa frase, repetida em milhões de mentes simultaneamente, funciona como um reset psicológico coletivo. E funciona, de fato — temporariamente. Durante alguns dias, talvez semanas, sentimos um alívio genuíno. A esperança retorna. A motivação ressurge. Fazemos listas. Planejamos academias. Prometemos conversas difíceis que foram adiadas. Acreditamos, sinceramente, que dessa vez será diferente.
Porém, aquilo que parece esperança é, na verdade, uma forma sofisticada de má-fé temporal. Estamos delegando ao calendário a responsabilidade que é estruturalmente nossa: a de habitar o presente com autoria, de tomar microdecisões conscientes a cada instante, de romper padrões no exato momento em que eles se manifestam. Ao prometer que “no ano novo tudo muda”, estamos, paradoxalmente, garantindo que nada mude de fato. Porque a neuroplasticidade — a capacidade real do cérebro de reorganizar suas conexões sinápticas — não responde a datas simbólicas. Ela responde à repetição consistente de ações incongruentes com os padrões antigos. E essas ações precisam acontecer agora, não em janeiro.
Existe ainda outro aspecto perverso nessa dinâmica: o núcleo accumbens, estrutura cerebral envolvida na antecipação de recompensa, libera dopamina não quando alcançamos uma meta, e sim quando imaginamos alcançá-la. Isso significa que o simples ato de listar resoluções de ano novo já ativa circuitos de recompensa. Sentimos prazer apenas por planejar a mudança, sem precisar executá-la. O cérebro recebe a dose de satisfação antecipada e, com isso, perde parte significativa da urgência de agir. Ficamos viciados na promessa, não na prática. Preferimos a dopamina do “vou começar segunda-feira” (ou do “vou começar em janeiro”) à recompensa modesta, porém real, de executar uma microação hoje.
E assim, ano após ano, repetimos o mesmo ciclo: fazemos promessas grandiosas em dezembro, sentimos o alívio temporário da esperança ritualizada, executamos algumas tentativas esparsas em janeiro, abandonamos discretamente em fevereiro, e passamos os dez meses seguintes carregando a culpa silenciosa de mais um ano que “não deu certo”. Chegamos a dezembro novamente exaustos, decepcionados, ansiosos — e recorremos ao mesmo remédio: prometer que no próximo ano será diferente. A cesura do dia 31 não nos liberta. Ela nos aprisiona num loop de procrastinação existencial.
O Custo da Fragmentação: Quando Viver em Capítulos nos Exaure
A fragmentação do tempo em unidades discretas — anos, meses, semanas — não é, em si, um problema. Ela se torna patológica quando passamos a viver apenas através dessas divisões artificiais, quando perdemos a capacidade de habitar o contínuo da existência sem precisar nomeá-lo, capitulá-lo, transformá-lo em narrativa linear com começo, meio e fim. Quanto mais dividimos a vida em capítulos estanques, mais o cérebro gasta energia tentando costurar uma história coerente entre esses fragmentos. E essa costura nunca se sustenta completamente.
A neurociência chama isso de ativação excessiva do default mode network — a rede neural ativa quando não estamos focados em tarefas externas, responsável por construir narrativas autobiográficas, antecipar futuros possíveis e revisar memórias passadas. Quando estamos constantemente tentando “fechar capítulos” e “abrir novos ciclos”, essa rede trabalha em modo acelerado, consumindo recursos cognitivos preciosos. O resultado é paradoxal: quanto mais tentamos organizar a vida em blocos temporais bem definidos, mais nos sentimos fragmentados, dispersos, exaustos. Vivemos entre o arrependimento do que não foi feito no “ano que passou” e a ansiedade do que precisa ser feito no “ano que vem” — sem jamais conseguir estar plenamente aqui, neste instante que é o único que existe de fato.
Esse modo de existência fragmentado gera aquilo que chamo de tirania da descontinuidade: a crença ilusória de que a vida avança por rupturas, por viradas, por momentos decisivos claramente demarcados. Como se houvesse um “antes” e um “depois” nítidos, separados por algum evento mágico (uma data, uma decisão, uma conquista). Essa crença nos impede de perceber que a transformação real acontece na acumulação imperceptível de microdecisões diárias, na repetição silenciosa de pequenas ações incongruentes com padrões antigos, na prática obstinada de presença que não precisa de plateia nem de fogos de artifício para validar sua existência.
Quando terceirizamos a mudança para o calendário, quando esperamos a virada do ano para “começar de novo”, estamos essencialmente dizendo: “Não sou capaz de transformar minha vida agora. Preciso que uma data externa me conceda permissão para isso.” Essa delegação corrói lentamente aquilo que poderíamos chamar de musculatura existencial — a capacidade de gerar movimento a partir de si mesmo, de tomar decisões conscientes sem depender de marcos externos, de habitar o presente com autoria mesmo quando nada ao redor muda. Ficamos fracos. Dependentes. Esperamos que o calendário nos diga quando é hora de viver.
E o mais cruel: essa fragmentação nos rouba a possibilidade de sentir satisfação genuína. Porque se a vida é sempre dividida entre “o que já passou” e “o que ainda não chegou”, nunca experimentamos plenamente aquilo que está acontecendo agora. Estamos perpetuamente deslocados no tempo — lembrando ou antecipando, arrependendo-nos ou preocupando-nos, avaliando ou planejando. O corpo participa da ceia de Natal, do encontro com amigos, da viagem de fim de ano. Porém, a mente está ocupada revisando pendências ou ensaiando futuros. Vivemos presentes fisicamente, ausentes ontologicamente. E depois nos perguntamos por que, mesmo com tantos “momentos especiais”, sentimos um vazio incompreensível.
Soberania Temporal: O Ritual que Começa Agora, Não em Janeiro
Existe uma alternativa radical a esse ciclo de fragmentação e dependência. Não se trata de abolir completamente os marcos temporais — eles têm sua função regulatória e simbólica. Trata-se de deslocar o poder de criar esses marcos: do calendário gregoriano para o corpo vivido, das datas externas para os sinais internos de saturação existencial. Trata-se de reconquistar a soberania temporal — a capacidade de decidir, a qualquer instante, que este momento pode ser o ponto de virada, que hoje pode ser mais transformador que qualquer primeiro de janeiro.
A verdadeira virada não acontece à meia-noite do dia 31, cercada de fogos e champanhe. Ela acontece no instante silencioso em que você decide que o tempo não lhe deve mais álibis. Que não há “próximo ano”. Que existe apenas a continuidade radical da existência — e que você pode reautorá-la agora, sem pedir permissão ao calendário.
Imagine que hoje, 19 de dezembro, você percebe um padrão que já não serve mais. Pode ser uma conversa que adia há meses. Pode ser uma tensão no corpo que você ignora sistematicamente. Pode ser uma narrativa interna (“nunca sou bom o suficiente”, “sempre acabo sozinho”, “preciso provar meu valor”) que se repete automaticamente sem que você questione sua validade. Esse padrão não desaparecerá magicamente em janeiro. Ele continuará operando, invisível, conduzindo suas microdecisões cotidianas, moldando suas relações, limitando suas possibilidades. A menos que você interrompa sua cadeia sináptica agora.
E se, em vez de esperar o dia 31 para fazer uma lista de resoluções grandiosas, você criasse um marco endógeno hoje? Um ritual privado, desencadeado não por fogos de artifício, e sim pela percepção clara de que algo precisa mudar — e pela disposição de agir imediatamente sobre isso. Não como promessa. Como prática. Não como evento anual. Como competência existencial que pode ser ativada a qualquer momento.
Esse deslocamento transforma radicalmente a relação com o tempo. Você deixa de ser refém do calendário e passa a ser autor da sua própria temporalidade. Não precisa mais esperar janeiro para recomeçar porque percebe que não há “recomeços” — há apenas continuidade, e você pode intervir nela a qualquer instante. O ritual da virada deixa de ser uma muleta psicológica e se torna, no máximo, uma celebração simbólica de algo que você já vem praticando diariamente: a reautoria consciente da existência.
Isso não é otimismo ingênuo. É o oposto: é o reconhecimento brutal de que ninguém virá nos salvar, que nenhuma data mágica fará o trabalho por nós, que a transformação real é incômoda, repetitiva, frequentemente invisível — e que ela precisa acontecer na imanência do cotidiano, sem plateia, sem validação externa, sem post inspirador no Instagram. É assumir a responsabilidade radical pelo próprio tempo. E isso aterroriza exatamente porque elimina todos os álibis.
Porém, nessa eliminação de álibis reside algo profundamente libertador: a descoberta de que você sempre teve o poder de mudar, e de que esse poder não depende de calendários, rituais coletivos ou permissões externas. Ele depende apenas da sua disposição de agir — agora.
Protocolo de Soberania Temporal:
Identifique o sinal de saturação.
Não o interprete. Não o justifique. Sinta-o no corpo como evidência irrefutável de que algo precisa mudar. Pode ser tensão nos ombros. Pode ser insônia recorrente. Pode ser irritabilidade desproporcional. Pode ser fadiga inexplicável. O corpo sabe antes da mente.
Mapeie as microdecisões que sustentaram o padrão.
Sem autopiedade. Sem narrativas de vítima. Nomeie-as com precisão cruel: foram escolhas, não destinos. Você disse sim quando deveria ter dito não. Evitou conversas necessárias. Priorizou conforto imediato sobre transformação duradoura. Repetiu automaticamente aquilo que não examinou conscientemente.
Execute a ação incongruente. Agora.
Uma só. Pequena o suficiente para ser imediatamente viável. Grande o suficiente para romper a cadeia sináptica do padrão. Não prometa fazer amanhã. Não planeje para janeiro. Faça agora. Envie a mensagem. Cancele o compromisso que drena sua energia. Dedique dez minutos àquilo que você “nunca tem tempo”. Uma única ação incongruente já inicia o rewiring neurológico que resoluções grandiosas nunca alcançam.
Repita na continuidade.
E aqui reside o teste definitivo da soberania temporal — a pergunta que Zaratustra fez e que poucos têm coragem de responder com honestidade:
Se este dia tivesse que retornar, idêntico, infinitamente — se você fosse condenado a revivê-lo para sempre, com todas as suas escolhas, suas hesitações, seus adiamentos, seus silêncios —, você o aceitaria?
Não o dia idealizado do primeiro de janeiro, carregado de promessas e esperanças ainda não testadas. Não o dia futuro onde finalmente você será quem deseja ser. Este dia. Hoje. 19 de dezembro. Exatamente como você o viveu.
Se a resposta for não — se houver vergonha, arrependimento, ou a sensação de que este foi mais um dia desperdiçado —, então você ainda está vivendo sob o jugo de valores mortos. Ainda espera que alguma data externa, algum ritual coletivo, alguma virada mágica o redima daquilo que você não teve coragem de fazer agora. Ainda acredita em milagres de calendário.
Porque o sacrilégio supremo não é mais contra divindades que já não habitam o mundo. É contra a terra — contra este instante concreto, contra este corpo que sinaliza, contra esta vida que pulsa agora e que você insiste em adiar para um “próximo ano” que nunca chega verdadeiramente. Veneramos as entranhas do insondável — os futuros imaginários, as promessas abstratas, os recomeços simbólicos, as transcendências que nunca se concretizam — e desprezamos o sentido da terra: a imanência radical do presente, o único lugar onde a realidade se constrói de fato.
Quando Zaratustra proclama que “Deus morreu”, ele não está fazendo uma afirmação teológica, mas diagnosticando um colapso existencial. Em outras palavras, nós mesmos matamos Deus em todos os instantes que deixamos de acreditar em nós, de fazer do tempo, a nossa melhor versão. De atribuir ao acaso, ao transcendente a justificativa da nossa inércia. Falíveis e imperfectíveis, sim, somos assim, e isso não nos condena — nos liberta. Não por blasfêmia, mas por necessidade existencial. Porque enquanto acreditarmos que há algo fora de nós — um calendário sagrado, um momento de virada místico, uma cura transcendente — que nos salvará da responsabilidade de habitar o agora com autoria, permaneceremos prisioneiros de estruturas simbólicas que já perderam toda legitimidade. Continuaremos obedecendo a rituais vazios, esperando que janeiro traga aquilo que só nossas mãos podem construir hoje.
O vazio deixado pela morte dos valores absolutos não é confortável. Ele exige que reconheçamos algo aterrorizante: não há milagre. Não há cura vinda de fora. Não há transcendência que nos absolva. Há apenas nós, aqui, construindo a realidade a cada microdecisão que tomamos — ou deixamos de tomar — neste exato instante.
A vida que você vive não é algo que acontece a você. É algo que você constrói — escolha por escolha, palavra por palavra, ação por ação, silêncio por silêncio. E essa construção não acontece em momentos grandiosos de virada. Ela acontece no acúmulo imperceptível de instantes aparentemente banais onde você decide estar presente ou fugir, agir ou adiar, habitar ou terceirizar.
O único critério de uma vida verdadeiramente vivida é este: você seria capaz de afirmar, ao final do dia, que viveria este exato dia eternamente?
Não porque foi perfeito. Não porque foi fácil. Não porque trouxe apenas prazer ou sucesso. Porém, porque foi seu — habitado com presença, escolhido com consciência, construído com autoria. Porque você não delegou suas decisões ao piloto automático. Porque não esperou que algum deus calendário-dependente lhe concedesse permissão para viver. Porque você reconheceu que a realidade não está dada; ela se constrói agora, nas suas mãos, neste instante que é o único que existe de fato.
A soberania temporal não se conquista fazendo listas de resoluções na virada do ano. Ela se conquista pecando contra a ilusão do futuro redentor e afirmando o sentido da terra — deste hoje, deste corpo, desta escolha que não pode mais ser adiada. Ela se conquista no reconhecimento radical de que não há salvação externa. Há apenas a coragem de construir, agora, a vida que você quer ter vivido.
Hoje é 19 de dezembro. E a pergunta permanece, implacável, inescapável: você viveria este dia para sempre?
Se a resposta ainda for não, então você sabe exatamente o que precisa ser feito.
Não há mais deuses que farão isso por você. Não há calendários que absolverão sua inércia. Há apenas você, aqui, agora, construindo — ou destruindo — a realidade que chamará de vida.
Não em janeiro. Agora.
Quer aprofundar sua compreensão sobre desenvolvimento cognitivo comportamental, liderança consciente e relações humanas transformadoras?
Acesse meu blog em www.marcellodesouza.com.br, onde você encontrará centenas de artigos autorais que exploram dimensões pouco discutidas do comportamento humano e organizacional, sempre com fundamentação científica e filosófica — longe dos clichês da autoajuda.
#soberaniatemporal #eternoretorno #sentidodaterra #realidadeconstruída #marcosendogenos #transformaçãoreal #alémdacesura #presenteconsciente #neuroplasticidade #autoconhecimento #filosofiaexistencial #liderançaconsciente #desenvolvimentohumano #psicologiacomportamental #continuidadereflexiva #vidareal #marcellodesouza #marcellodesouzaoficial #coachingevoce #LinkedInNotícias #SuaVaga2026
Você pode gostar
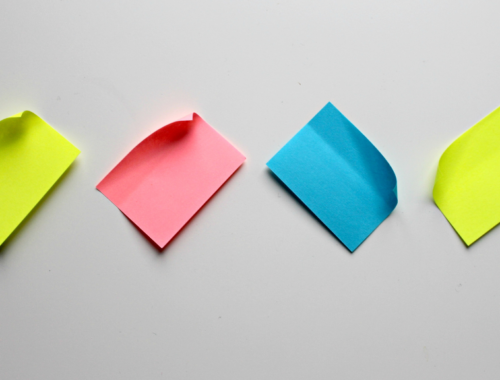
ALÉM DO ÓBVIO: REDEFININDO O APRENDIZADO E A AUTENTICIDADE
30 de outubro de 2024
O PODER DA EMPATIA NAS RELAÇÕES
1 de março de 2019
