
A CULTURA NÃO É O QUE SE FALA, MAS O QUE SE ACEITA
“Cultura começa no que você deixa passar.” — Peter Drucker
Imagine sua existência como um teatro sutilmente coreografado, onde cada gesto, cada palavra contida, cada silêncio consentido compõe não apenas sua narrativa pessoal, mas também o roteiro invisível das relações que o cercam. A frase de Drucker não é uma sentença de gestão; é uma advertência filosófica embutida em simplicidade. Aquilo que deixamos passar — por conveniência, medo ou automatismo — torna-se a argamassa silenciosa da cultura que nos envolve.
Mas o que significa, de fato, “deixar passar”? Por que as pequenas permissividades do cotidiano — como o comentário atravessado que ninguém confronta, o atraso reiterado que se torna norma, ou o e-mail agressivo que não recebe resposta — têm tanto poder de moldagem? Por que aquilo que é ignorado no micro, transforma o macro?
É aqui que entra o convite: olhar para além da superfície. Através de uma lente integrativa que amalgama psicologia social, neurociência comportamental e filosofia aplicada à vida, este texto propõe uma reflexão urgente e atemporal — a cultura não se expressa no que proclamamos, mas no que toleramos. Cada omissão é uma estrutura; cada concessão, uma engrenagem. E juntas, elas não apenas movimentam sistemas — elas esculpem almas coletivas.
Convido você a mergulhar nesta anatomia silenciosa das tolerâncias cotidianas. Vamos compreender como elas constroem — ou corroem — os ambientes que habitamos. Porque no fim, toda cultura é um reflexo daquilo que decidimos aceitar em nome da paz aparente. Mas a que custo?
1. Cultura não é o que se prega; é o que se permite
Cultura não se manifesta nos quadros de missão afixados nos corredores nem nos discursos entusiasmados das convenções anuais. Ela emerge de forma quase imperceptível — no intervalo entre o que é feito e o que é ignorado, entre o que se permite uma vez e o que se repete até virar norma.
Imagine uma equipe onde um colaborador constantemente se atrasa e nada é dito. Em pouco tempo, a pontualidade deixa de ser valor e torna-se exceção. Em uma escola, quando um aluno ofende o colega e a reação é o silêncio — ainda que por receio de expor o conflito — ali se planta a semente da permissividade relacional. Em uma liderança que valoriza exclusivamente metas atingidas, mas fecha os olhos para os meios utilizados, instaura-se a cultura do resultado a qualquer custo — e, com ela, a erosão silenciosa da ética.
Esses exemplos não são casuais. A psicologia social há décadas investiga as chamadas normas implícitas: estruturas não formalizadas que regulam comportamentos de forma muito mais poderosa que qualquer regra escrita. São essas normas invisíveis que definem a atmosfera moral e emocional de uma organização, de uma família ou de uma equipe.
Neurocientificamente, nosso cérebro está constantemente mapeando padrões de repetição para entender “o que é aceitável aqui”. Não há julgamento ético automático — apenas reforço daquilo que se repete. Ou seja: aquilo que não corrigimos se converte, neurologicamente, em referência. Tolerar não é apenas aceitar — é ensinar o sistema nervoso, individual e coletivo, a considerar aquele comportamento como parte da norma.
O mais inquietante? Muitas dessas concessões não nascem da malícia, mas do medo do confronto, do desejo inconsciente de ser aceito ou da simples exaustão emocional que nos empurra para o modo automático. Assim, silenciosamente, edificamos culturas que não representam nossos valores, mas sim nossas omissões.
Pergunta para reflexão: Quais comportamentos você tem deixado passar — por conveniência ou exaustão — e que, no fundo, vêm moldando um ambiente distante da sua essência?
2. A arquitetura invisível do hábito
Sob a ótica das neurociências, o cérebro humano é menos um repositório de ideias e mais um escultor compulsivo de padrões. Ele molda sua estrutura com base na repetição — não no valor moral do comportamento, mas na frequência com que ele ocorre. Ou seja, o cérebro não registra o que é “certo”, mas o que é constante.
Como já sugeria Donald Hebb — um dos pais da neurociência comportamental — “neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos”. Cada vez que toleramos um comportamento disfuncional — uma injustiça, um comentário tóxico, um desvio ético — criamos microcircuitos de acomodação que se fortalecem com o tempo. Permitir a procrastinação, por exemplo, é ensinar ao cérebro que prazos são opcionais. Aceitar a fofoca como algo inofensivo é normalizar a corrosão da confiança como algo institucionalizado.
Mas esse processo não acontece em vácuo. O ambiente — entendido aqui como o campo sistêmico que envolve indivíduos, equipes e instituições — age como um espelho e amplificador dessas permissividades. O comportamento de um indivíduo não é apenas pessoal: ele reverbera em rede, e se alinha inconscientemente às dinâmicas do sistema em que está inserido.
Como demonstram pesquisas em neurociência social e teoria dos sistemas vivos, o cérebro é regulado também pelo olhar do outro, pela norma invisível do grupo, pelo que é implicitamente aceito. Ou seja: a cultura é neuroplasticamente contagiosa.
Quando um líder tolera atrasos constantes, o sistema aprende que pontualidade é opcional. Quando ninguém intervém diante de um comentário preconceituoso, o grupo entende que aquilo é “normal”. Quando se aplaudem resultados e se silenciam condutas antiéticas, o sistema aprende que o fim justifica os meios. E o cérebro, obediente que é, responde com adaptações neurais — reforçando vias que sustentam esse novo “normal”.
Contudo, a neuroplasticidade oferece também a chave para a transformação. Ambientes que promovem presença ética, feedbacks conscientes e correções imediatas geram padrões alternativos. O sistema — assim como o cérebro — pode ser reeducado, reconfigurado, revitalizado.
Essa repetição cotidiana estabelece um “código-fonte” cultural. Não é o evento isolado que contamina o ambiente — é a sucessão não confrontada de micro tolerâncias. Nas palavras do neurocientista Antonio Damásio, “sentimentos e decisões são moldados pela repetição de experiências, e não pela lógica abstrata”. Assim, líderes que evitam dar feedback, pais que silenciam diante de atitudes egoístas, gestores que relativizam desvios éticos em nome do resultado — todos participam, mesmo que inconscientemente, da construção de um ecossistema adoecido.
Contudo, há uma força revolucionária operando em silêncio: a neuroplasticidade. O cérebro — e por consequência, a cultura — pode ser reeducado. Podemos cultivar novos padrões mentais e comportamentais com base em escolhas conscientes e repetidas. Mas isso exige vigilância atenta, disposição para o incômodo e compromisso radical com a integridade. Reprogramar o ambiente não começa com grandes rupturas, mas com pequenas interrupções dos automatismos que toleramos.
Beja o exemplo de uma organização que adotou práticas semanais de “reflexões culturais” — em que comportamentos desalinhados são discutidos coletivamente — observou-se, após 6 meses, uma queda de 42% nos relatos de microagressões e aumento de 38% no índice de segurança psicológica. Isso demonstra que a mudança do sistema reforça novas sinapses sociais.
Pergunta para reflexão: Quais padrões você tem reforçado — talvez por descuido ou hábito — e que, se transformados, poderiam regenerar o ambiente à sua volta?
3. Da permissividade à conivência
Existe uma fronteira sutil — e perigosamente porosa — entre tolerância e conivência. Quando deixamos algo passar por conveniência, medo, fadiga emocional ou falsa diplomacia, não estamos apenas evitando o desconforto do confronto. Estamos alimentando o enraizamento de dinâmicas que, com o tempo, se tornam sistêmicas e corrosivas.
A psicologia comportamental alerta para o efeito de reforço intermitente: quanto mais um comportamento disfuncional é ignorado ou tolerado em alguns momentos, maior sua tendência a se perpetuar e intensificar. Isso vale tanto para o colaborador que frequentemente falha em cumprir prazos quanto para o líder que permite microagressões sem jamais enfrentá-las. A ausência de consequências funciona, psicologicamente, como uma recompensa disfarçada que fortalece o padrão.
Sob a lente da psicologia social ambiental — que explora como nossos comportamentos são moldados por contextos e sistemas — o impacto da omissão torna-se ainda mais evidente. Pesquisas de Philip Zimbardo e Kurt Lewin revelam que ambientes permissivos criam zonas de diluição da responsabilidade, nas quais os indivíduos se sentem distanciados da obrigação ética e moral de intervir, alimentando o silêncio coletivo com justificativas como “não é minha função” ou “isso sempre foi assim”.
O efeito espectador, demonstrado em diversos estudos clássicos, exemplifica esse fenômeno: quanto maior o grupo de observadores passivos diante de uma injustiça, menor a probabilidade de intervenção individual. Em contextos organizacionais, isso se traduz em conivência disfarçada — onde o silêncio prolongado diante do erro ou da toxicidade acaba legitimando o comportamento.
Em processos de coaching executivo, escuto líderes relatarem:
“Eu percebia que algo estava errado, mas não me sentia autorizado a agir.”
“Preferi evitar o conflito, mesmo sabendo do impacto negativo.”
Essas omissões constroem um ambiente fértil para cinismo, ressentimento e medo, corroendo o tecido relacional e fragilizando o desempenho coletivo.
A filosofia estoica sintetiza essa realidade com clareza — “o que você não corrige, você endossa.” E endossar, nesse caso, significa perpetuar padrões que adoecem a cultura.
Hannah Arendt, em sua análise da banalidade do mal, nos lembra que grandes destruições não vêm de atos explícitos de maldade, mas do silêncio conformista e da indiferença cotidiana. A cultura se corrompe não pelo que fazemos, mas pelo que deixamos de fazer.
Exemplo prático: Em uma organização de médio porte, a não intervenção dos líderes diante de práticas manipuladoras de um gestor gerou, em dois anos, a saída de 40% dos talentos de alta performance. Não pelo gestor isoladamente, mas pela cultura de conivência estrutural que alimentou descrença, desmotivação e perda da confiança coletiva.
Vejamos o fenômeno do efeito espectador foi descrito pela primeira vez após o assassinato de Kitty Genovese em 1964, um caso emblemático que revelou como dezenas de testemunhas não interviera por acreditarem que outra pessoa o faria. Desde então, a psicologia social confirma que a diluição da responsabilidade em grupos impacta diretamente a resposta ética e comportamental diante de situações adversas.
Na esfera organizacional, pesquisas contemporâneas demonstram que ambientes com cultura de silêncio e permissividade têm 35% mais chances de desenvolver problemas crônicos de saúde mental, redução de produtividade e turnover elevado.
Pergunta para reflexão: O que você tem tolerado por comodismo — ou autopreservação — que silenciosamente compromete sua integridade e afeta a saúde sistêmica do ambiente que habita ou lidera?
4. Para além da técnica, a clareza do ser
Se cultura é a soma das permissões que concedemos, então nossa identidade se revela, paradoxalmente, nas omissões que silenciosamente cultivamos. O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, ao explorar a fenomenologia da percepção, nos ensina que o que deixamos passar — aquilo que não percebemos ou evitamos ver — não é ausência, mas um modo de ser no mundo que nos molda tanto quanto nossas ações explícitas. Nossa experiência existencial está sempre imersa numa intersubjetividade que constrói e desconstrói nossa noção de autenticidade.
Mais do que um imperativo moral, a responsabilidade aqui é ontológica: é a capacidade do sujeito de responder ao mundo com consciência plena, uma resposta que, segundo Hans-Georg Gadamer na sua hermenêutica filosófica, exige a abertura para o diálogo consigo mesmo e com o outro, desafiando pressupostos arraigados e resistências internas. Negar o conflito, camuflar a verdade ou ceder ao conformismo são atos que corroem a integridade do sujeito, limitando a sua liberdade de ser e agir no mundo com plenitude.
A liderança humanizada, nesse contexto, não se limita ao domínio de técnicas comportamentais ou metodologias de gestão. Ela emerge de uma clareza interior — fruto da reflexão crítica e da auto-inquirição — que habilita o líder a operar além do automatismo e das dinâmicas reativas. Michel Foucault já advertia sobre o “cuidado de si” como prática ética fundamental para a construção do sujeito livre, indicando que a verdadeira mudança organizacional nasce da transformação profunda e constante do indivíduo.
Recusar a permissividade inconsciente é, portanto, um ato de coragem epistêmica, que desafia o próprio modo como enxergamos o mundo e a nós mesmos. É um gesto criativo que reconfigura a cultura pela alteração do campo perceptivo e decisório do líder e daqueles que o cercam. Cada “não” consciente é uma pedra fundamental no edifício de uma cultura alinhada com valores autênticos, uma cultura que não se limita a discursos, mas que é vivida e experimentada no cotidiano.
Pergunta para reflexão: Como suas tolerâncias atuais têm configurado a arquitetura silenciosa da sua identidade? Que recusas profundas você está disposto a fazer para preservar a clareza e a integridade do seu ser e, por consequência, a cultura que influencia?
5. Além do permitido, a criação do possível
Vamos voltar a frase: “Cultura começa no que você deixa passar.” Peter Drucker não apenas nomeou um princípio gerencial; ele nos entregou a chave para desvelar a arquitetura oculta da existência coletiva. Essa frase é tanto um convite quanto um desafio: o que deixamos passar hoje não é mera omissão — é o ato fundador da cultura que, consciente ou inconscientemente, estamos continuamente co-criando.
Contudo, cultura não é uma entidade estática, tampouco um catálogo fixo de regras ou comportamentos. Ela é um organismo vivo, uma trama relacional pulsante que se reconfigura em resposta às escolhas microscópicas e quase invisíveis que fazemos a cada instante. Portanto, a responsabilidade cultural — seja no âmbito pessoal, relacional ou organizacional — é um exercício radical de presença e coragem filosófica: a coragem de enxergar o invisível, nomear o não dito e abraçar o incômodo inerente à transformação.
Essa consciência cultural transcende o agir reativo: é uma postura epistemológica que exige:
• Escuta sistêmica profunda — a sensibilidade para captar não apenas o que é expressado, mas o silêncio que estrutura, os padrões invisíveis que orquestram decisões e comportamentos, e os efeitos em cascata das micropermissões no tecido social;
• Reconhecimento da micro-resistência — a bravura para encarar as forças internas — medo, apatia, racionalizações — que paralisam a ação e perpetuam o status quo;
• Compromisso com a criação ativa — não se trata apenas de evitar o tóxico, mas de nutrir o regenerativo, o inspirador, o alinhado com a autenticidade e os valores que definem nossa melhor versão coletiva.
A transformação cultural acontece em múltiplas dimensões simultâneas: horizontalmente, permeando equipes, áreas e relações interpessoais; verticalmente, reverberando do chão até o cume da organização. É, antes de tudo, um processo identitário que molda nossa percepção de nós mesmos e do outro, tecendo o substrato ético e emocional que sustenta o sistema em sua totalidade.
Não é um evento isolado, mas um espaço dinâmico onde indivíduo e coletivo se entrelaçam — o encontro do ser com o outro e com o ambiente físico, psicológico e simbólico em que ambos habitam. Uma zona dialógica e multidimensional de criação contínua, onde padrões são desafiados e significados cocriados.
Mais do que uma mudança pontual, a transformação cultural é uma dança constante com o tempo, exigindo persistência para atravessar resistências internas e externas, humildade para reconhecer fragilidades e coragem para aprender e expandir-se no desconforto da verdadeira mudança.
Só ao abraçarmos essa complexidade — transversal e vertical — compreendemos o poder e o desafio de liderar cultura. Ela não reside em departamentos, cargos ou discursos; pulsa nas microações e omissões do cotidiano, ressoando em toda a organização e na vida das pessoas que a compõem.
A psicologia social ambiental na cultura organizacional
A cultura não se limita às palavras proferidas ou aos comportamentos explícitos — ela é também comunicada e perpetuada pelo ambiente que indivíduos e grupos habitam. A psicologia social ambiental nos ensina que os espaços físicos, visuais e sensoriais funcionam como um sistema comunicacional complexo, onde cada cor, textura, som, aroma e arranjo espacial transmite mensagens sutis sobre o que é valorizado, permitido ou reprimido.
Quando uma organização dedica atenção consciente à qualidade do ambiente — cuidando da limpeza, da organização, da segurança, da ergonomia, da iluminação, da paleta de cores e até mesmo da circulação do ar — ela está, na verdade, emitindo uma comunicação contínua e poderosa que transcende as palavras. Esse ambiente funciona como uma linguagem silenciosa que fala diretamente ao sistema nervoso e ao inconsciente das pessoas que o habitam.
Ambientes que refletem cuidado, ordem e segurança acionam circuitos neurais ligados à confiança, bem-estar e pertencimento — condições essenciais para a ativação de estados de presença, engajamento e criatividade. Além disso, segundo a psicologia social ambiental, esses espaços atuam como “artefatos simbólicos”, carregando e propagando valores e normas percebidos como legítimos e compartilhados pelo grupo.
Por outro lado, ambientes negligenciados, desorganizados ou inseguros funcionam como sinais não verbais de descaso e desvalorização, gerando efeitos disruptivos no coletivo. Essa “comunicação ambiental negativa” pode instaurar estados de alerta, desconfiança e desgaste emocional, criando terreno fértil para a proliferação de comportamentos disfuncionais — desde a indisciplina e o descompromisso até a erosão da colaboração e do respeito mútuo.
Mais do que cenário físico, o ambiente é um componente ativo do ecossistema cultural, capaz de modular a dinâmica relacional e os processos cognitivos do grupo. Em outras palavras, o espaço em que atuamos não é neutro; é um ator invisível, um condutor de mensagens que influenciam diretamente a forma como as pessoas se percebem, se relacionam e tomam decisões.
Esse entendimento leva a um desafio vital para líderes e gestores: não basta discursar sobre valores, é imprescindível “encarná-los” no ambiente — criar espaços que sintam, na própria textura, luz e ar, a integridade, ética e humanidade que se deseja cultivar. Assim, o cuidado com o ambiente deixa de ser custo ou detalhe para se tornar estratégia de transformação comportamental e cultural, reverberando em todos os níveis do sistema.
Essa comunicação ambiental atua como um poderoso reforçador cultural — moldando emoções, influenciando atitudes e orientando comportamentos, mesmo antes da interação verbal. Cada aspecto do espaço torna-se um agente ativo na formação e manutenção da cultura organizacional, dialogando com a psicologia social e o inconsciente coletivo do grupo.
Compreender e atuar nessa camada é essencial para liderar não só pessoas, mas ambientes que vibrem em harmonia com os valores desejados, potencializando o desenvolvimento integral e sustentável das organizações.
Perguntas para reflexão profunda:
• Quais comportamentos você tem consentido que silenciosamente tecem a cultura ao seu redor?
• Que pequenas revoluções cotidianas está disposto a liderar para desfazer padrões exaustos e inaugurar novos possíveis?
• Está preparado para enfrentar as resistências internas e externas que toda transformação profunda inevitavelmente provoca, para se tornar um agente autêntico de mudança?
Gostaria também de trazer a perspectiva da psicologia social de Robert Cialdini, que explora a influência das normas sociais no comportamento. Cialdini sugere que as normas implícitas não apenas moldam o comportamento, mas também criam uma pressão conformista que perpetua o status quo. Quando ninguém confronta um atraso ou uma microagressão, o grupo internaliza que “é assim que as coisas são”. Isso reforça a sua ideia de que a omissão é um ato ativo, mas adiciona uma camada: a pressão social pode transformar a permissividade em uma armadilha coletiva, onde o silêncio de um reforça o silêncio de todos.
Convite à ação consciente:
Identifique uma tolerância presente em sua vida ou organização que, ao ser interrompida, abrirá espaço para um padrão mais alinhado à sua visão mais elevada. Defina seu primeiro passo não como mera meta, mas como compromisso existencial — a semente da cultura que deseja cultivar: aquela que transcende o permitido e inaugura o possível.
A cultura que toleramos é a identidade que cultivamos
Este artigo não trata a cultura como um artefato institucional, uma declaração de missão ou um código escrito à margem da vida real. Ele é um convite — firme e delicado — a mergulhar no território onde a cultura verdadeiramente nasce: nas decisões silenciosas, nos gestos omitidos, nas permissões que, escapando ao nosso radar, constroem aquilo que, mais tarde, chamaremos de “normal”.
Cultura é comunicação silenciosa. Ela está no tom de voz de um líder, na forma como uma equipe reage ao erro, no silêncio após uma injustiça, na disposição de uma sala ou na escolha das cores de um espaço de convivência. Está naquilo que dizemos, sim — mas, sobretudo, no que deixamos de dizer. E isso nos atravessa de maneira transversal e vertical: das emoções pessoais aos ambientes coletivos, da postura de um estagiário à ética de um CEO.
Talvez possamos agora ir além: cultura também começa naquilo que você tem coragem de não permitir. Ela é o reflexo direto daquilo que escolhemos interromper, transformar e cocriar com consciência.
As contribuições da psicologia comportamental, da psicologia social ambiental e das neurociências revelam que essa transformação é não apenas possível — é urgente. O cérebro é plástico. O ambiente, moldável. O sistema, sensível. E o ser humano, apesar de suas resistências, é uma centelha ativa de mudança, quando encontra sentido e presença no seu papel.
Refletir sobre o que deixamos passar é, portanto, um chamado à responsabilidade existencial. É reconhecer que nossa identidade — individual e coletiva — é moldada não apenas pelos atos que praticamos, mas pelas omissões que aceitamos. Ambientes organizacionais, relacionais e sociais são construídos sobre o terreno sutil das microconcessões, das permissividades cotidianas que, não questionadas, tecem narrativas — muitas vezes tóxicas — que conduzem ao esgotamento, à perda de sentido e à fragmentação dos vínculos.
Mas esta reflexão não é um diagnóstico pessimista. É, acima de tudo, uma chave para a regeneração cultural. A neurociência demonstra que o cérebro pode reconfigurar seus padrões; a psicologia ambiental mostra sistemicamente que os espaços e contextos moldam o comportamento coletivo; e a filosofia nos convida à coragem ética de enfrentar o invisível, o incômodo e o contraditório da mudança profunda.
A pergunta central não é apenas o que estamos permitindo hoje, mas que tipo de futuro estamos tornando inevitável com essas permissões. Cultura não se transforma com discursos grandiosos, mas com pequenas escolhas cotidianas — feitas com ética, presença e responsabilidade.
Compreender e agir sobre o que toleramos — nos gestos, nos espaços, nas estruturas simbólicas e nas decisões estratégicas — é um exercício vital de liderança consciente e autêntica. É assumir a construção ativa de uma cultura que promova integridade, bem-estar, potência humana e sentido compartilhado.
Mais do que um convite à reflexão, este texto é um chamado à ação lúcida: escolha com consciência aquilo que você já não está disposto a permitir. Torne-se o arquiteto da cultura que transforma realidades, que cultiva dignidade e que revela o melhor da condição humana.
Porque, no fim, a qualidade das nossas relações, organizações e comunidades será sempre proporcional àquilo que fomos capazes de tolerar — ou de recusar.
“Nem sempre é o ruído que arruína estruturas — por vezes, é o silêncio das fissuras que as devasta.” – Marcello de Souza
Aquilo que você tolera silenciosamente hoje pode estar minando, pouco a pouco, os alicerces do ambiente que deseja construir. Por isso, a omissão nunca é neutra: ela é um ato. E cada ato, ainda que imperceptível, compõe um legado.
Se há um solo fértil para a mudança, ele se encontra exatamente aí: nas microdecisões que você está disposto a revisar, e nas permissões que, enfim, decidir interromper.
Convido ao diálogo e à prática consciente:
• Qual foi a última atitude que você deixou passar — e depois percebeu que não deveria?
• De que forma sua liderança (pessoal ou organizacional) tem contribuído — ativa ou passivamente — para a cultura que o cerca?
• Que pequena interrupção, feita hoje, poderia inaugurar uma grande transformação amanhã?
• Quais resistências internas (medo, fadiga, desejo de aceitação) você já identificou em si mesmo que o levam a tolerar algo que não deveria? Como você as enfrenta?
• Em sua experiência, qual foi a interrupção de uma permissividade que gerou a maior transformação em um ambiente que você lidera ou habita?
• Como podemos equilibrar a coragem de dizer “não” às omissões com a empatia necessária para manter a conexão humana em contextos de mudança?
Compartilhe suas reflexões nos comentários. Vamos aprofundar juntos essa jornada de construção de culturas conscientes, vibrantes e regeneradoras. Se desejar caminhar com mais profundidade, estou à disposição para te acompanhar nessa travessia de desenvolvimento.
#marcellodesouza #marcellodesouzaoficial #coachingevoce #desenvolvimentohumano #desenvolvimentocomportamental #culturaorganizacional #filosofiapratica #neurocienciacomportamental #presencaexecutiva #culturacomportamental #liderançaconsciente #neurocienciasedesenvolvimento
Você pode gostar
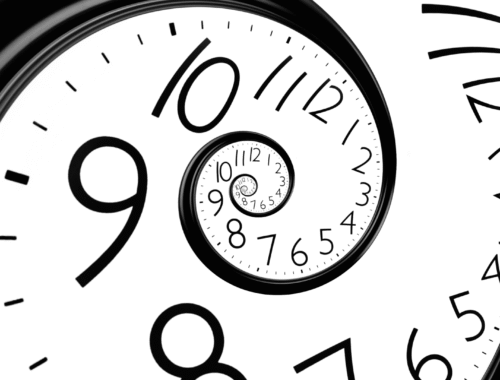
APRENDE A SUBIR
2 de dezembro de 2025
SER QUENTE OU FRIO: A BUSCA PELA SINGULARIDADE
23 de outubro de 2024

