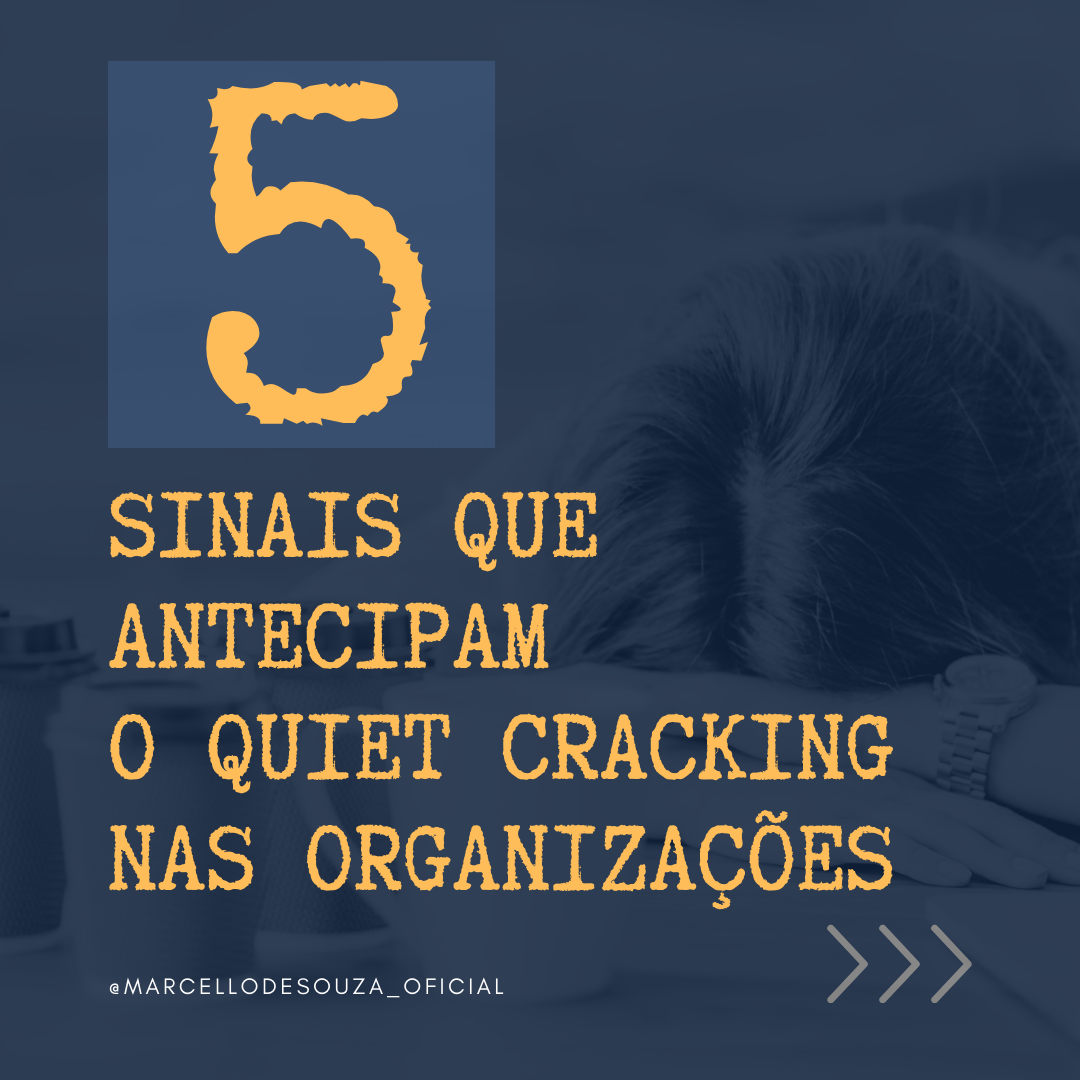
Autonomia ou Dependência Oculta: Uma Investigação Multidisciplinar sobre os Mecanismos Subjacentes à Infantilização nas Organizações
Imagine, por um instante, que o seu papel como líder não seja apenas gerir tarefas, mas navegar pelas correntes invisíveis do comportamento humano, onde cada decisão pode acorrentar ou libertar o potencial de uma equipe. E se, em vez de fomentar autonomia, você estivesse, inadvertidamente, perpetuando um ciclo de dependência que erode não só o engajamento, mas a própria essência da maturidade coletiva? Inspirado pelo artigo de Rafael Souto no Valor Econômico, que desvela os “custos invisíveis da infantilização no trabalho”, convido-o a uma exploração que transcende o superficial. Aqui, não nos contentamos com conselhos genéricos; mergulhamos em neurociências, psicologia social, filosofia existencial e evidências empíricas para desmontar esse fenômeno, questionando: o que realmente acontece quando tratamos adultos como se ainda precisassem de tutores?
A infantilização, como delineada por Souto, não é mero capricho comportamental, mas uma distorção sistêmica que se infiltra nas estruturas organizacionais. Líderes paternalistas, ao evitarem feedbacks incisivos ou centralizarem decisões, criam relações de dependência que mimetizam dinâmicas parentais disfuncionais. Mas por que isso persiste? Da perspectiva da psicologia comportamental, estudos indicam que tal padrão surge de uma confusão entre empatia e complacência, onde o medo de confrontos leva a uma “empatia ruinosa”, termo cunhado por Kim Scott e ecoado por Souto. Essa dinâmica não é isolada: pesquisas em análise transacional, inspiradas em Eric Berne, sugerem que relações adultas são substituídas por interações “pai-filho”, onde o “eixo adulto” – caracterizado por racionalidade mútua – é sabotado.
Contudo, para compreendermos a profundidade, precisamos ir além do visível. Considere a neurociência: quando a autonomia é cerceada, o cérebro ativa circuitos de medo e estresse crônico. A amígdala, centro neural do processamento emocional, se hiperativa em cenários de baixa autonomia, liberando cortisol que inibe a criatividade e a proatividade. Um estudo recente sobre o medo do fracasso no trabalho revela que a frustração da autonomia – como em micromanagement – amplifica ruminações afetivas pós-trabalho, levando a exaustão emocional. Essa resposta não é abstrata; ela se manifesta em uma redução da onda RewP (Reward Positivity), um marcador neural que avalia o valor motivacional de ações, tornando o erro percebido como ameaça existencial em vez de oportunidade de aprendizado. E se essa ativação neural for o gatilho para o que Souto descreve como “baixa clareza e iniciativa reduzida”? Pergunto: em sua organização, quantas decisões são adiadas não por falta de competência, mas por um medo subconsciente de falhar, enraizado na ausência de controle permissível?
Integrando a Teoria da Autodeterminação, desenvolvida por Edward Deci e Richard Ryan, vemos que a motivação intrínseca depende de três necessidades psicológicas: autonomia, competência e engajamento.
No contexto laboral, a falta de autonomia – ou seja, a percepção de controle sobre ações próprias – não só diminui o engajamento, mas promove motivação extrínseca dependente, onde o colaborador age por medo de punição em vez de propósito interno. Aplicações da Teoria da Autodeterminação em organizações demonstram que ambientes com alta autonomia correlacionam-se a maior performance e bem-estar; por exemplo, um meta-estudo revela que intervenções baseadas em Teoria da Autodeterminação elevam o engajamento em até 25%, mediado por motivação autônoma. Mas o que isso implica para líderes? Se a infantilização frustra essas necessidades, ela não apenas drena energia, como Souto alerta, mas reconstrói a identidade do trabalhador como dependente, perpetuando um ciclo onde a dependência se torna norma cultural.
Agora, elevemos o debate com lentes filosóficas, pois o comportamento humano não se reduz a sinapses ou teorias psicológicas – ele ecoa dilemas existenciais. Jean-Paul Sartre, em sua ontologia fenomenológica, afirma que “a existência precede a essência”, implicando que o ser humano é condenado à liberdade: somos responsáveis por nossas escolhas, sem desculpas externas. Em liderança, isso significa que infantilizar é negar ao outro sua responsabilidade autêntica, criando “má-fé” – uma autoenganação onde o colaborador abdica de seu protagonismo para evitar a angústia da liberdade. Foucault, por sua vez, analisa o poder como rede relacional, não hierárquica.
Vamos refletir aqui:
“Achar que proteger do desconforto é cuidado.”
Reflexão: O excesso de proteção cria dependência e mina autonomia.
“Evitar conversas difíceis e feedbacks claros.”
Reflexão: Sem franqueza, a confiança e o engajamento despencam.
“Permitir que responsabilidades sejam terceirizadas.”
Reflexão: Colaboradores aprendem a transferir decisões e culpar outros.
“Estereotipar pessoas por idade ou perfil.”
Reflexão: Nem todo jovem é ansioso, nem todo sênior precisa de supervisão constante.
“Confundir gentileza com complacência.”
Reflexão: Cuidado pessoal sem franqueza é empatia ruinosa.
“Trate adultos como adultos.”
Reflexão: Clareza, responsabilidade mútua e protagonismo transformam cultura, engajamento e resultados.
“A liberdade é apenas aparente enquanto não assumimos a responsabilidade por nossas escolhas.” – Marcello de Souza
A infantilização seria uma forma de “governamentalidade”, onde líderes exercem poder pastoral – como pastores guiando ovelhas – normalizando dependência para manter controle. Mas e se questionássemos: como Foucault nos convida a resistir, desnaturalizando essas relações de poder para fomentar subjetividades autônomas? Em organizações, isso implica desconstruir narrativas paternalistas, revelando como elas servem a estruturas de dominação sutis, em vez de empoderamento genuíno.
Evidências empíricas reforçam essa tapeçaria multidisciplinar. Dados da Gallup para 2025 indicam que o engajamento global caiu para 21%, com apenas 31% nos EUA – uma década de estagnação atribuída, em parte, à baixa clareza de papéis (46% dos profissionais) e ao evitamento de conversas difíceis (70%). Estudos em psicologia organizacional mostram que autonomia prediz engajamento: um modelo recente demonstra que flutuações diárias em autonomia impactam performance, moderadas pelo fit pessoa-organização. Mais intrigante, pesquisas sobre infantilização revelam que 68% dos funcionários infantilizados reportam baixa autoestima e 72% estresse crônico, com efeitos mais pronunciados em dinâmicas de dependência tóxica. Esses números não são estatísticas frias; eles pintam um retrato de culturas organizacionais onde a dependência bilateral – líderes que não cobram e equipes que não assumem – corrói a performance coletiva.
Mas romper esse ciclo exige mais que diagnósticos; demanda uma abordagem integrativa, ancorada em inteligência comportamental. Considere intervenções neurocientíficas: treinamentos que cultivam “mindsets de crescimento”, baseados em Carol Dweck, mas adaptados ao desenvolvimento cognitivo comportamental, onde líderes facilitam experiências de autonomia para recalibrar respostas neurais ao fracasso. Por exemplo, sessões de feedback dialógico, inspiradas em filosofia socrática, onde perguntas abertas – “O que você faria se tivesse total controle sobre essa decisão?” – desafiam pressupostos e constroem responsabilidade compartilhada. Evite estereótipos, como Souto adverte: nem a geração Z é inerentemente ansiosa, nem veteranos precisam de supervisão eterna. Em vez disso, personalize via análise de perfis comportamentais, integrando neurociências para mapear respostas ao estresse e filosofia para fomentar autoexame sartreano.
“Tratar adultos como crianças é confortável no curto prazo, mas destrói cultura e potencial no longo prazo.” – Marcello de Souza
Reflita comigo: em sua trajetória, quando foi a última vez que uma conversa difícil revelou não fraqueza, mas potencial latente? Organizações maduras, como aquelas estudadas em contextos ágeis, prosperam na responsabilização bilateral: líderes que cobram com clareza, ancorados em evidências da psicologia comportamental, e colaboradores que entregam com consciência, livres da má-fé existencial. Aqui, a autonomia não é concessão, mas direito inalienável, fomentando culturas onde o engajamento não é métrico, mas fluxo vital.
Em síntese, a infantilização não é acidente; é produto de interseções negligenciadas entre mente, poder e sociedade. Ao integrarmos neurociências para entender o medo neural, e o desenvolvimento cognitivo comportamental para nutrir motivação intrínseca, e perspectivas de Sartre e Foucault para questionar estruturas, transformamos organizações em espaços de evolução genuína. Pergunto-lhe, leitor: você está pronto para abdicar do paternalismo e abraçar a angústia da liberdade coletiva? Essa jornada não é fácil, mas é o caminho para culturas sustentáveis, onde o humano não é recurso, mas protagonista. Para aprofundar, explore o artigo de Souto e reflita: qual o custo invisível de sua própria dependência?
Leia o artigo citado na íntegra em: https://valor.globo.com/carreira/coluna/os-custos-invisiveis-da-infantilizacao-no-trabalho.ghtml
#marcellodesouza #marcellodesouzaoficial #coachingevoce

O Ego do Líder Inseguro
Você pode gostar

NEGOCIANDO COM MENTIROSOS – PARTE 1
22 de abril de 2024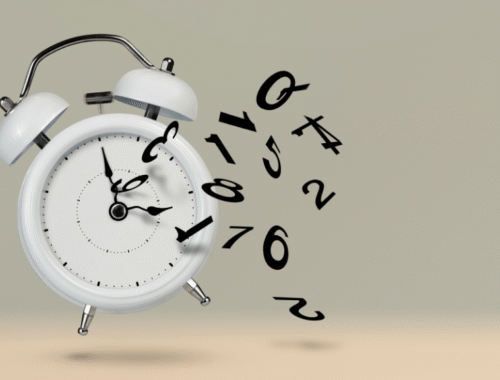
O TEMPO QUE VOCÊ DIZ QUE NÃO TEM — E A MENTIRA QUE O PREENCHE
7 de julho de 2025
