
A EMPRESA NÃO É SUA FAMÍLIA: A MENTIRA DO PERTENCIMENTO E O NASCIMENTO DO EU AUTÊNTICO
Existe um tipo de dor que não sangra, não deixa marca visível, mas corrói a arquitetura mais íntima do que somos. É a dor da desvinculação. A dor de ser descolado, desenraizado, arrancado do tecido relacional que nos dava a ilusão de pertencimento. Não estamos falando aqui de solidão — essa, aliás, pode ser escolhida, cultivada, até desejada. Estamos falando de algo mais primordial e devastador: a experiência de ser rejeitado pela tribo. E quando essa tribo se chama “empresa”, “organização”, “coletivo de trabalho”, a ferida adquire contornos que a racionalidade mal consegue alcançar.
A Dor Invisível da Desvinculação
Porque nós, seres relacionais por excelência, não apenas trabalhamos em grupos. Nós nos constituímos através deles. Construímos espelhos coletivos nos quais nossa identidade se reconhece, se valida, se ancora. E quando esses espelhos são estilhaçados — seja por uma demissão, uma reestruturação, uma mudança de cultura organizacional que nos torna obsoletos —, não é apenas o emprego que se perde. Perde-se um pedaço da narrativa de si. Perde-se o mapa afetivo que nos localizava no mundo.
E aí, inevitavelmente, vem o caos.
Mas é preciso começar por entender algo que raramente se diz: a filiação não é um luxo emocional. Ela é uma necessidade ontológica. Desde que nascemos, sobrevivemos porque alguém nos reconhece, nos nomeia, nos inclui. A filiação é o ato que nos arranca da invisibilidade e nos inscreve numa trama de sentidos compartilhados. Sem ela, não há “eu”. Há apenas fragmentos, ruídos, potências soltas. A criança que não é vista definha. O adulto que não é reconhecido adoece. E o profissional que é excluído do coletivo ao qual dedicou tempo, energia, presença, entra numa espécie de luto antecipatório — porque não é só o futuro que se perde, mas também o passado que deixa de fazer sentido.
Então, quando a empresa coloca você em caos — seja pela forma como comunica, pelo ritmo com que implementa mudanças, pela frieza com que gere processos de desligamento —, ela não está apenas reorganizando estruturas. Ela está mexendo na matéria mais delicada da experiência humana: a necessidade de vínculos significativos. E isso não é pouca coisa. Porque a filiação que a organização oferece, ou retira, opera num registro psíquico muito mais profundo do que imaginamos. Ela toca na nossa ancestralidade, na memória coletiva de quando ser expulso da tribo significava morte certa. E embora hoje não morramos fisicamente por perder um vínculo institucional, algo dentro de nós reage como se essa ameaça fosse real. O pânico é antigo. O medo é estrutural. A vergonha é visceral.
A Confusão Entre Identidade e Filiação
Mas há algo ainda mais sutil e perigoso nesse processo: a confusão entre identidade e filiação. Porque quando passamos anos, às vezes décadas, dentro de uma mesma estrutura organizacional, começamos a acreditar que somos aquilo que a empresa diz que somos. Nossos títulos, nossas funções, nossos reconhecimentos internos passam a definir não apenas o que fazemos, mas quem somos. E quando essa estrutura nos rejeita, a sensação não é de perda de emprego — é de perda de existência. Como se a empresa fosse a fonte da nossa identidade, e não apenas um dos palcos onde ela se manifesta.
Essa é a armadilha. E ela é alimentada por um sistema que, consciente ou inconscientemente, cultiva dependência emocional. Quanto mais a organização se torna o epicentro da vida do indivíduo — seu senso de propósito, sua rede social, sua autoestima, sua agenda, sua razão de ser —, mais vulnerável ele fica. Porque toda filiação exclusiva, toda tribo que se torna única referência de valor, é potencialmente totalitária. E quando a exclusão acontece, o vazio é proporcional ao grau de investimento afetivo que foi feito.
O Caos Como Revelação
Mas o caos, por mais doloroso que seja, carrega uma verdade libertadora: ele desmascara a fragilidade das estruturas que tomamos como absolutas. O caos não é colapso — é revelação. Ele expõe aquilo que estava escondido sob camadas de funcionalidade, rotina, conformidade. Ele mostra que a filiação que parecia sólida era, na verdade, condicional. Que o pertencimento que parecia incondicional tinha cláusulas em letras miúdas. Que a tribo que parecia acolhedora operava por lógicas de utilidade, desempenho, encaixe estratégico. E isso, embora machucado, é informação valiosa. Porque é a partir dessa clareza que se pode começar a reconstruir — não mais a partir da ilusão de segurança externa, mas a partir da capacidade interna de escolha consciente.
E aqui está o ponto de virada: identidade não é descoberta. Identidade é construção. É decisão. É narrativa que reescrevemos todos os dias, a partir das experiências que vivemos, das relações que cultivamos, dos valores que elegemos. A empresa não tinha o poder de defini-la. Nunca teve. O que ela tinha era o poder de nos convencer de que tinha. E quando perdemos essa ilusão, ganhamos algo muito maior: autonomia existencial.
Mas essa autonomia não vem pronta. Ela precisa ser forjada no caos. E forjar exige coragem de enfrentar perguntas difíceis. Perguntas que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Quem sou eu quando não pertenço a lugar nenhum? Quem sou eu quando não tenho título, cargo, função definida? Quem sou eu quando ninguém me reconhece, me valida, me aplaude? Essas perguntas são aterrorizantes porque nos colocam diante do vazio. Mas é justamente nesse vazio que habita a possibilidade de reconstrução autêntica. Porque só quando paramos de buscar nossa identidade nos olhos dos outros — inclusive nos olhos das instituições — é que podemos começar a construí-la a partir de dentro.
E isso nos leva a uma distinção fundamental: há filiações que nos ampliam, e filiações que nos reduzem. Há tribos que nos convidam à expansão, à diferença, à singularidade. E há tribos que nos exigem uniformização, submissão, apagamento. A primeira forma de filiação é relacional, dialógica, viva. A segunda é instrumental, funcional, descartável. E o que muitos descobrem, no momento da ruptura, é que estavam vinculados a um coletivo que nunca os viu como sujeitos plenos — apenas como peças encaixáveis num tabuleiro maior.
Mas aqui reside uma responsabilidade que não pode ser ignorada: se a filiação é necessidade, ela também é escolha. E toda escolha implica consciência. Não podemos controlar as forças que nos atravessam — as demissões, as reestruturações, as crises organizacionais —, mas podemos controlar o grau de consciência com que nos vinculamos. Podemos escolher tribos que respeitem nossa integridade, que reconheçam nossa humanidade, que não nos tratem como recursos descartáveis. E, sobretudo, podemos escolher não depositar em nenhuma estrutura externa o poder de definir nosso valor.
Porque o que o caos revela, no fundo, é isso: a filiação com qualquer instituição será sempre parcial, temporária, condicional. E isso não é uma tragédia. É uma verdade. Uma verdade que nos liberta da ilusão de segurança eterna e nos convida a assumir a autoria da nossa própria existência. Não como indivíduos isolados, autocentrados, narcisistas — mas como seres relacionais que escolhem conscientemente suas tribos, seus vínculos, suas formas de pertencimento. Seres que sabem que podem pertencer sem se perder. Que podem se filiar sem se anular. Que podem se vincular sem se fundir.
E isso exige maturidade emocional, sofisticação relacional, lucidez existencial. Exige compreender que nossa existência nunca foi individual, mas que nossa identidade precisa ser soberana. Que vivemos em redes de interdependência, mas que nosso valor não pode depender da validação alheia. Que precisamos de vínculos para nos constituir, mas que esses vínculos não podem nos aprisionar. É uma dança delicada, complexa, paradoxal. Mas é a única dança possível para quem deseja viver com integridade.
A Autoria Que Nasce do Caos
E quando o caos chega — e ele sempre chega —, a pergunta que devemos fazer não é “por que me rejeitaram?”. Essa pergunta nos mantém no lugar da vítima, da passividade, da impotência. A pergunta libertadora é: “a quais tribos, valores e propósitos coletivos eu escolho me filiar daqui pra frente, de forma consciente, ativa e soberana?” Porque é essa pergunta que devolve o poder às nossas mãos. Que nos tira do lugar de quem é escolhido e nos coloca no lugar de quem escolhe. Que transforma o caos de ameaça em oportunidade. Que transforma a ruptura de fim em começo.
Mas essa transformação não acontece sozinha. Ela exige trabalho interno. Exige que olhemos para as feridas abertas pela desvinculação e compreendamos o que elas dizem sobre nossas necessidades não atendidas, sobre as expectativas que depositamos nas estruturas externas, sobre as ilusões que cultivamos a respeito do que é segurança, pertencimento, reconhecimento. Exige que revisitemos nossa história de filiações — desde a infância até o presente — e entendamos os padrões que se repetem. Exige que nos perguntemos: quais tribos eu escolhi por medo? Quais escolhi por comodidade? Quais escolhi por autenticidade? E, sobretudo: quais tribos eu ainda estou escolhendo hoje?
Porque a verdade incômoda é que muitos de nós permanecemos em filiações tóxicas, redutoras, violentas, por medo do vazio que viria caso nos desvinculássemos. Preferimos a dor conhecida da inadequação à incerteza libertadora da autonomia. Preferimos ser aceitos em tribos que nos diminuem do que arriscar a solidão provisória que vem antes de encontrar tribos que nos ampliem. E isso nos adoece. Nos fragmenta. Nos mantém presos numa versão reduzida de quem poderíamos ser.
Então, quando a empresa nos coloca em caos, ela está, paradoxalmente, nos dando um presente. Um presente brutal, doloroso, inesperado — mas um presente. Porque ela está nos forçando a olhar para aquilo que evitávamos. Ela está nos tirando da zona de conforto existencial e nos colocando diante da urgência de reconstrução. Ela está nos mostrando que a segurança que buscávamos fora nunca existiu. E que a única segurança possível é aquela que construímos dentro.
Mas construir essa segurança interna exige aceitar algo que a cultura contemporânea rejeita com todas as forças: a impermanência. Vivemos numa sociedade que vende estabilidade, previsibilidade, controle. Que promete que, se fizermos tudo certo, estaremos seguros. Que se nos dedicarmos, seremos reconhecidos. Que se formos leais, seremos recompensados. E quando essas promessas se revelam falsas — e elas sempre se revelam —, o desespero é proporcional à ilusão que alimentamos.
Pertencer Sem Se Perder
Mas a impermanência não é inimiga. Ela é a natureza das coisas. Tudo flui, tudo muda, tudo se reconfigura. As organizações mudam. As culturas mudam. As estratégias mudam. E nós também mudamos. A tentativa de fixar identidade, de encontrar uma tribo definitiva, de conquistar um lugar permanente, é uma luta contra a própria essência da existência. E toda luta contra a essência da existência gera sofrimento.
O que não significa que devemos nos tornar indiferentes, desapegados, frios. Significa que devemos aprender a nos vincular de forma consciente, sabendo que todo vínculo é temporário, mas nem por isso menos significativo. Significa que devemos amar nossas tribos, contribuir com elas, nos doar a elas, mas sem confundi-las com nossa fonte de identidade. Significa que devemos pertencer sem nos perder. E isso é uma arte. Uma arte que exige prática, reflexão, coragem.
E talvez a maior coragem seja essa: a de usar o caos como matéria-prima para reconstrução. Não no sentido de “superar rapidamente”, “virar a página”, “seguir em frente” — essas frases prontas que negam a complexidade do luto relacional. Mas no sentido de habitar o caos com presença, de permitir que ele nos atravesse, de extrair dele não respostas fáceis, mas perguntas profundas. Perguntas que nos reconduzam à nossa essência, aos nossos valores, aos nossos desejos mais legítimos. Perguntas que nos ajudem a discernir entre as filiações que nos eram impostas e as filiações que realmente queremos cultivar.
Porque no fundo, o que o caos nos convida a fazer é dançar. Dançar com a incerteza. Dançar com a impermanência. Dançar com a possibilidade de nos reinventarmos continuamente. E essa dança só é possível quando aceitamos que a estrela que nasce do caos não é a mesma que morreria se permanecêssemos na ordem antiga. É uma estrela nova. Uma estrela que só existe porque a estrutura anterior desmoronou. Uma estrela que só brilha porque houve escuridão suficiente para que sua luz se tornasse visível.
Então sim, vocês estão em caos. E podem se agarrar à identidade antiga com desespero, tentando reconstituir o que não existe mais, buscando em outras tribos a mesma filiação que perderam, repetindo os mesmos padrões de dependência emocional. Ou podem usar esse caos como matéria-prima. Podem olhar para dentro e perguntar: quem eu escolho ser, agora que ninguém mais está me dizendo quem eu deveria ser? Quais vínculos eu quero cultivar, agora que entendo que todo vínculo é escolha? Quais tribos eu quero integrar, agora que sei que pertencimento autêntico só acontece quando há integridade?
E essa escolha, essa decisão renovada diariamente, é o que nos torna verdadeiramente livres. Não livres de vínculos — porque vínculos são a própria substância da existência. Mas livres dentro dos vínculos. Livres para escolher. Livres para sair. Livres para reconfigurar. Livres para dançar.
Porque no final, o que define uma vida plena não é a estabilidade das tribos às quais pertencemos, mas a consciência com que nos filiamos a elas. Não é a durabilidade dos vínculos, mas a qualidade deles. Não é o reconhecimento externo, mas a soberania interna. E quando aprendemos isso — quando realmente integramos isso —, o caos deixa de ser ameaça e se torna convite. Convite para renascer. Convite para recriar. Convite para dar à luz, dentro de nós, a estrela que só poderia existir porque houve coragem suficiente para atravessar a escuridão.
E essa estrela? Ela dança. Dança com o caos. Dança com a impermanência. Dança com a liberdade de ser, mesmo quando não há mais estruturas externas para nos dizer quem deveríamos ser. Ela dança porque entendeu que identidade não é destino. É movimento. É criação contínua. É filiação consciente, ativa, soberana.
E você? Está pronto para dançar?
________________________________________
Se este texto ressoou em você, convido você a explorar centenas de outras reflexões sobre desenvolvimento cognitivo comportamental humano, organizacional e relações humanas conscientes no meu blog. Lá, você encontrará insights que desafiam o senso comum e ampliam a compreensão sobre o que significa viver, trabalhar e se relacionar de forma integral e evolutiva.
#marcellodesouza #marcellodesouzaoficial #coachingevoce #FiliaçãoConsciente #IdentidadeSoberana #CaosCriativo #DesenvolvimentoHumano #RelaçõesAutênticas #TransformaçãoOrganizacional #PertencimentoLegítimo #ExistênciaRelacional #AutonomiaExistencial #ReconstruçãoInterna
Você pode gostar

COMO DIZER O QUE TEM QUE SER DITO SEM MEDO DE DIZER!
30 de maio de 2023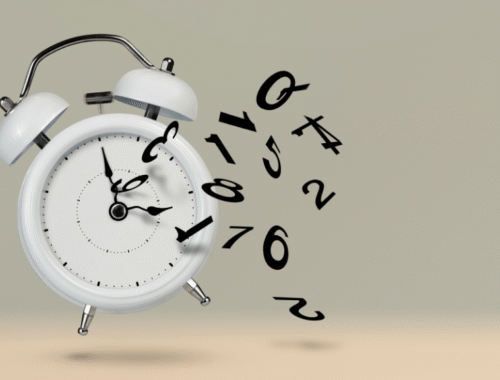
O TEMPO QUE VOCÊ DIZ QUE NÃO TEM — E A MENTIRA QUE O PREENCHE
7 de julho de 2025

